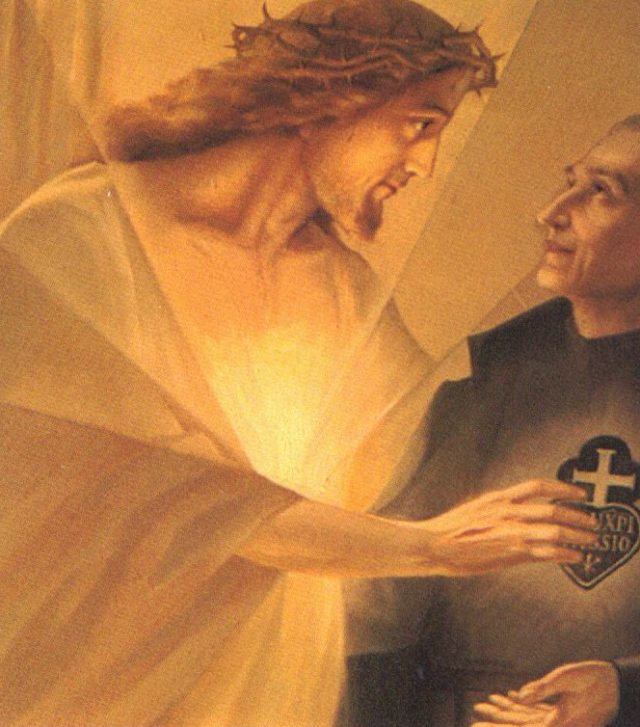Tradução do livro “Studies in Passionist History and Spirituality – The Wisdom of the Cross” do Rev. Costante Brovetto, C.P. Descarregar o pdf original em inglês e a versão traduzida.
Capítulo I: RETORNO À CRUZ
Como Este Renascimento Veio à Luz
O período compreendido aproximadamente entre a metade dos anos 50 e o final dos anos 60 demonstrou uma reação evidente no pensamento cristão contra o que era visto como uma concentração excessiva sobre a cruz na teologia e espiritualidade católicas. Uma obra teológica importante de F. X. Durrwell, CSSR, A Ressurreição (Nova Iorque, 1960), reverteu essa tendência. O distinto papel salvador da Ressurreição, proposto com força, não foi tão facilmente aceito, embora certamente tenha remodelado o papel da cruz.
Sabedoria, equilíbrio e um profundo respeito pela tradição levaram o Vaticano II a buscar uma síntese entre a Paixão, Morte e Ressurreição, como o único Mistério Pascal, perenemente presente na Igreja. “A obra da redenção humana e a perfeita glorificação de Deus… foi realizada por Cristo Senhor, especialmente no mistério pascal da Sua abençoada Paixão, Ressurreição dos mortos e gloriosa Ascensão, pelo qual mistério, ‘morrendo Ele destruiu a nossa morte e ressuscitando, restaurou a nossa vida'” (Prefácio da Páscoa).
Mas, de fato, a tendência conciliar foi bastante otimista (como João XXIII, que a iniciou), e o tom “pascal” predominou. A mudança na visão do “mundo” é um sinal disso – um mundo que “foi libertado da escravidão do pecado por Cristo, que foi crucificado e ressuscitou para quebrar o domínio do maligno…”
Toda a atmosfera fervia com uma espiritualidade e uma teologia pastoral que, no passado, pareciam ter gerado um misticismo mórbido e “triste”, e uma resignação exagerada do povo diante do fracasso e das situações permanentes de miséria e injustiça. No entanto, muito rapidamente, este renascimento neotriunfalista da ressurreição mostrou-se prematuro, para dizer o mínimo. A Igreja pós-Concílio teve de enfrentar uma onda de secularização mais violenta do que nunca. Tentaram-se argumentos pseudo-teológicos para provar que “Deus está morto”. Entretanto, todas as ilusões otimistas no nível socio-político desapareceram. Os revolucionários, mais ou menos milenaristas, como os “advogados” da sociedade abastada, tiveram que enfrentar a descoberta inesperada de que, graças especialmente à guerra do petróleo, os anos de abundância garantida tinham acabado.
Assim, de forma muito significativa, a moda teológica virou (de forma clara na obra de Moltmann), do tema da esperança para o da cruz. A “Teologia da Esperança” de Moltmann remonta a 1964. Ele não esconde a inspiração derivada da obra do filósofo ateu-comunista Ernst Bloch, O Princípio da Esperança. Há uma forte tensão em direção ao futuro: para o autor, um protestante convicto, este futuro é transcendente e eterno. Mas muitos leitores mais do que o esperado ligaram temas que trouxeram essa teologia para a nossa vida atual.
Contudo, já em 1972, Moltmann escreveu em Concilium sobre um “Deus Crucificado” e publicou um livro com o mesmo nome, com o significativo subtítulo “A Cruz de Cristo, como a fundação e crítica da Teologia Cristã”. No prefácio, ele conta como os novos tempos depressivos lhe lembraram aqueles dias em que estudava teologia imediatamente após a guerra, no meio de uma Alemanha arruinada. Nenhuma outra teologia seria possível senão a da cruz.
Assim, os anos 70 foram marcados por este renascimento da reflexão teológica e espiritual sobre o tema da cruz. Uma confirmação disso foi dada no Congresso Internacional sobre A Sabedoria da Cruz Hoje, realizado em Roma em 1975, para marcar o segundo centenário da morte de São Paulo da Cruz, fundador dos Passionistas. Os Atos do Congresso foram publicados em três grandes volumes. A riqueza dos seus conteúdos e o interesse despertado confirmam que “Cristo mesmo veio mostrar-nos que a Cruz, no plano de Deus, não é desespero nem resignação, mas esperança, segurança e instrumento de salvação” (Discurso de Abertura do Padre Sebastian Camera, Vigário Geral dos Passionistas).
É difícil encontrar o caminho através da abundância de material impresso, mas a fundação da revista STAUROS, fundada especificamente para promover o estudo sobre este tema, publicou uma bibliografia que continha 1.524 títulos para 1972-73; 2.573 títulos para 1974-75; 2.607 títulos para 1976-77, e 2.415 títulos para 1978-79.
Uma Profunda Experiência de Renovação Teológica
A teologia protestante e a pesquisa católica abundam em estudos exegéticos, patrísticos, dogmáticos, espirituais e pastorais sobre a Cruz. Há também uma tendência ecuménica em relação à Morte de Cristo como causa da nossa salvação e “spes unica” para a nossa vida. De acordo com M. Flick, é um fenómeno do que ele chama de “pendularismo”, que demonstra a validade daquela lei de desenvolvimento dogmático pela qual, quando uma faceta da revelação é explicada, as outras não perdem o seu significado, mas, de acordo com os requisitos da correlação, aparecem sob uma nova luz que estimula a investigação.
Parece-nos, como Moltmann diz, que a teologia da Cruz contém a resposta para uma necessidade muito mais profunda da vida cristã nos nossos dias. No desafio do secularismo ateu, ele viu um perigo mortal para que o cristianismo perdesse a sua identidade ou se tornasse irrelevante. A onda crescente de secularismo levou muitos a insistir tanto nos pressupostos de Gaudium et Spes, no que diz respeito ao diálogo com o mundo, que quase se tornaram idênticos a ele. O cristianismo foi considerado apenas como “existência-para-os-outros”, e a transcendência teológica foi posta o mais possível entre parênteses, para que a teologia se tornasse antropologia. Para muitos esquerdistas, foi considerado necessário carregar um estandarte de negação de qualquer coisa especificamente cristã em todos os problemas terrenos. Consequentemente, a pergunta, “Qual é a utilidade de ser cristão?” A resposta óbvia, dada por muitos, especialmente os jovens, foi sair da Igreja. A irrelevância leva à perda de identidade.
No polo oposto estava a instituição eclesiástica. Insistindo na afirmação dogmática e disciplinar da identidade cristã, estava exposta a tornar-se cada vez mais marginal e irrelevante para a dinâmica da história. O atual declínio é o último sinal residual dessa privatização do facto religioso. Tem-se a impressão de que muitos parecem resignados a uma identidade irrelevante e se refugiam, por fuga ou aprisionamento, em algum pequeno gueto.
Enquanto aguardamos uma síntese madura, de muitas maneiras diferentes, embora nem sempre coerente entre si e, portanto, ainda num estado fluido, a teologia da cruz pretende recuperar tanto a identidade quanto a relevância. Sem dúvida, basear o próprio ensinamento na “loucura” da Cruz de Jesus é ter coragem de levar o argumento até as origens da evangelização. Não há aqui resignação ou passividade. Está tão amplamente afirmado que serve como base para a construção da verdadeira identidade do Deus verdadeiro contra toda forma de ateísmo. O homem que ressuscitou depois de ser tão rapidamente declarado morto é o Deus Crucificado, e toda outra imagem do Pai desaparece para sempre. A relevância da nova teologia pretende ser exercida também e precisamente na construção do mundo. O teólogo católico John B. Metz, em particular, falou para nós da “memória provocadora da Paixão”.
Sabedoria, Em Vez de Teologia: Porquê?
Neste breve curso, é impossível dar uma visão completa destas novas tendências, nem podemos ignorar os novos dados que introduzem novas direções que os anos 80 nos trouxeram. A história segue o seu caminho cada vez mais rápido. Preferimos permanecer dentro do campo pastoral que é o nosso. A preferência pelo termo “sabedoria” em vez de “teologia” indica a natureza do curso e as suas implicações. Iremos diretamente às fontes do pensamento cristão, ou seja, ao Apóstolo Paulo. Depois de chamar a “linguagem da cruz” de ‘loucura’, ele afirma ousadamente que Cristo Crucificado é a “Sabedoria de Deus” (I Cor. 1:18,23ss). A reflexão sobre a morte de Cristo foi, desde o início, uma preocupação da vida intelectual da comunidade cristã. Os seguidores de Jesus conseguiram resolver o problema do escândalo da cruz apenas à luz das Escrituras: “Não era necessário que o Cristo sofresse essas coisas e entrasse na sua glória?” (Lc. 24:26). Os resultados dessa busca, já presentes nos escritos do Novo Testamento, trouxeram à tona a função central salvífica da cruz de acordo com o plano sapiencial de Deus.
A razão teológica torna-se relativa diante desta intuição. A teologia aplica a razão à fé para ilustrar, desenvolver e defender os dados da revelação. É um esforço maravilhoso, mas sempre ambíguo. Hoje, essas limitações tornaram-se claras. A ferramenta da razão aplicada à fé é usada por cada teólogo dentro da cultura dos seus tempos. Os Padres moviam-se num contexto de pensamento platónico. A inovação dramática de Tomás de Aquino foi introduzir o pensamento aristotélico no bastião da teologia. Gostemos ou não, é sempre um processo “redutor” comparado aos dados originais que são, por definição, divinos, mesmo que expressos nas fontes reveladas como “a maravilhosa condescendência da sabedoria eterna”.
Os teólogos estão prontos para admitir que a sua linguagem – mesmo a dos enunciados dogmáticos do Magistério – não esgota o mistério divino. Entretanto, são, de fato, considerados adequados e frequentemente, quando aplicados à vida cotidiana, há uma redução adicional que às vezes termina em um beco sem saída, provocando reações de rejeição. Isso é muito claro hoje, quando uma certa cultura dominante (marxista ou radical) é tão completamente ateia que não pode ser usada como uma ferramenta teológica e quando as questões de fé não podem ser expressas com suficiente “inculturação”. Novamente, isso é verificável simplesmente devido ao pluralismo de culturas que torna a própria existência de uma única teologia problemática.
Por isso, prefere-se recorrer à sabedoria. De acordo com o Concílio: “Há um crescimento no entendimento das realidades e palavras que estavam a ser transmitidas. Isso ocorre de várias maneiras. Acontece através da contemplação e estudo dos crentes que ponderam essas coisas nos seus corações.” (Dei Verbum 8). A sabedoria é a compreensão “pneumática” ou espiritual das Escrituras que revela o “mistério”, isto é, a maneira como a vontade salvífica de Deus age na ocultação dos eventos históricos.
Se tivermos de ilustrar a revelação pela razão, o santo pode fazê-lo melhor do que o erudito. Os verdadeiros Padres e Doutores da Igreja são os Santos. O nosso curso é uma tentativa de uma nova avaliação da contemplação sapiencial para que ela possa servir como base para o desenvolvimento doutrinal e pastoral futuro.
Capítulo II: A CRUZ COMO SÍMBOLO SAPIENCIAL
A fé cristã sempre fez da cruz o seu principal símbolo e proclamou-a por toda a parte. Embora a ênfase excessiva tenha diminuído o impacto desse símbolo nas consciências humanas, ele ainda mantém a sua importância. Sua riqueza de significado vai muito além da religião bíblica. “O primeiro estágio em uma teologia da cruz é descobrir o verdadeiro significado que este símbolo difundido tem para o crente”. (1) Indiscutivelmente, a contemplação sapiencial é alimentada pelos arquétipos misteriosos gravados na consciência humana (ou no subconsciente); mas, a partir daí, é preciso ir além deles. O perigo de construir uma “gnose” mais ou menos esotérica no lugar de uma peregrinação de fé está sempre presente.
Simbolismo Cósmico da Cruz
Segundo Jung, o simples diagrama de duas linhas que se cruzam perpendicularmente tem acompanhado a humanidade desde a Idade da Pedra e, por sua própria natureza, introduz um significado transcendental. Desde os tempos mais remotos, esse sinal foi dado com a dupla significação de morte e vida. Talvez uma linha cortando a outra faça com que se pense em uma tendência contrária, uma vida quebrada. Ou talvez evoque a imagem de um homem estilizado…(2)
René Guénon escreveu uma obra extensa sobre “O Simbolismo da Cruz”.(3) Ele está convencido de que a cruz é uma ideia simbólica universal que se expressa analogicamente nas visões mais improváveis do mundo. Por exemplo, nas tradições religiosas hebraicas, hindus, taoístas, chinesas e gnósticas. Em todas essas tradições, a cruz expressa a realização do ser integral. O centro da cruz é “o ponto onde todas as oposições são reconciliadas e para o qual elas se voltam.” (4) O homem sábio, desapegado de todas as coisas, deve alcançar esse centro e, assim, tornar-se “senhor de todas as coisas porque ele ultrapassou todas as oposições provenientes da multiplicidade e, assim, nada mais pode tocá-lo.” (5)
Outro símbolo clássico está relacionado com a letra TAU (+), encontrada nos alfabetos fenício e hebraico e mais tarde no grego. Sendo a última letra do alfabeto, poderia facilmente significar perfeição, cumprimento. A magia das letras pairou sobre o TAU como um sinal salvífico; na visão de Ezequiel, aqueles que escaparam das abominações de Jerusalém foram marcados com ela nas testas e, assim, foram poupados da destruição (Ez. 9:4). (6)
Os Padres viram outro símbolo da cruz no mastro de um navio. A mitologia grega conta que Ulisses escapou das sereias ao ser amarrado ao mastro. “A comparação do mastro com a cruz é certamente apenas cristã. Sobre ele, a alegoria de Ulisses como modelo de sabedoria foi sobreposta… A astúcia do sábio Ulisses é um exemplo de sabedoria sublime possível apenas para alguns cristãos… Maximus de Turim chegou a ver em Ulisses amarrado ao mastro do navio a figura de Cristo crucificado…” (7)
Os mitos já haviam chegado à filosofia com Platão, que em Timeu afirma que o demiurgo divide a alma do mundo na forma de uma cruz; a cruz atinge o céu para indicar o Verbo eterno (Logos); à esquerda e à direita, ela afasta os inimigos do caos. A seção inferior está profundamente enraizada e une o que está abaixo com o que está acima; a cruz, de fato, assume o valor de princípio básico e coesão para o cosmos. Essas especulações foram posteriormente totalmente absorvidas pelos gnósticos.(8)
Simone Weil também viu em Platão um precursor da sabedoria da cruz, quando ele tenta explicar os seres limitados a partir do ilimitado. “Em Deus, deve haver unidade entre o princípio, que cria e ordena a limitação, e a matéria inerte, que é indeterminação… Quando Deus cria, ele renuncia a ser tudo; ele entrega um pouco do ser a algo fora dele. A criação é uma renúncia por amor… A única resposta verdadeira é aceitar a possibilidade de ser destruído. Onde há consentimento à necessidade, que é completo, autêntico e incondicional, há participação na cruz de Cristo.” (9)
Essas e muitas outras comparações são frequentemente muito interessantes e podem parecer pedagogicamente úteis; mas pensamos que é melhor evitá-las. Pode-se acabar preso a elas. Se não houver referência à vida concreta de Jesus de Nazaré, mitos e filosofias podem dizer demais ou de menos. Dizer demais quando reduzem Deus ao silêncio para exaltar apenas o Seu amor ilimitado. Dizer de menos quando falham em reconhecer o peso completo da existência humana, ou fazem tanto uso de dados antropológicos a ponto de transferi-los de forma inadequada para a divindade.(10)
Angústia, Gemidos e Clamores no Antigo Testamento
Bem diferente é a abordagem do pensamento revelada no Antigo Testamento. O escândalo do sofrimento – especialmente o do homem justo – nunca foi minimizado. A surpresa dolorosa dos discípulos diante da cruz mostra que para eles ela não tinha nada de salvífico. A mentalidade hebraica está bem representada nas zombarias dos sumos sacerdotes e escribas diante do Cristo agonizante: “Que Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz, para que o vejamos e creiamos” (Mc. 15:32). Eles ecoam o Livro da Sabedoria: “… Se o homem justo é filho de Deus, Deus estenderá a mão para ele e o salvará das garras dos seus inimigos…” (Sabedoria 2:18).
Embora seja difícil distinguir os vários níveis da tradição hebraica que se acumularam no Antigo Testamento, “podemos apontar a probabilidade de um conceito primitivo próximo ao dos amigos de Jó, que se desenvolveu, por um lado, estendendo o horizonte da retribuição para a vida futura, e, por outro, a experiência profunda do sofrimento inocente, sem que esse fato tenha recebido uma solução universalmente satisfatória.”(11)
Para a mentalidade primitiva, o sofrimento era, acima de tudo, um castigo infligido pela divindade àqueles que, mesmo sem saber, a ofenderam. No primeiro capítulo de Gênesis, a relação estrita entre crime e punição é afirmada de várias maneiras. A ideia de uma “personalidade corporativa”, na qual o indivíduo praticamente desaparecia para o bem do povo, era pacificamente aceita. Depois, o povo era, de certa forma, resumido na cabeça ou governante, para o bem ou para o mal. Pesquisas bíblicas concluíram que o sofrimento universal está ligado ao pecado da cabeça da humanidade e que as desgraças do povo escolhido podem estar ligadas ao pecado do governante.
No entanto, durante o exílio babilônico, por volta da época de Ezequiel, ocorreu uma mudança importante. A responsabilidade pessoal tomou o primeiro lugar em relação à solidariedade do povo. “Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. … Vivei, diz o Senhor Deus, este provérbio não será mais usado em Israel… A alma que pecar, essa morrerá… O filho não compartilhará a culpa do pai, nem o pai a culpa do filho. O justo colherá o fruto da sua justiça, e o ímpio o fruto da sua iniquidade” (Ez. 18:2,20).
A partir desse momento, o escândalo do sofrimento do homem inocente tornou-se ainda mais intolerável. Para ser aceitável, a ideia posterior – no prólogo e no epílogo de Jó – de que Deus tentou os seus amigos por meio do sofrimento, pressupõe que, antes do fim de suas vidas, esses amigos seriam plenamente recompensados. “O Sheol não pode te confessar, a morte não pode te louvar, nem aqueles que descem ao abismo podem esperar pela tua verdade” (Is. 38:18). “Não são os mortos que louvam o Senhor, nem os que descem ao silêncio…” (Sl. 119:17) “Mas nós, os vivos, bendizemos o Senhor…” A terrível experiência logo antes da vinda de Cristo, especialmente a perseguição de Antíoco Epifânio, narrada no Livro dos Macabeus, causou um novo desenvolvimento do pensamento hebraico. Se, apesar de tudo, o homem justo permanece fiel a Deus, ele não ficará sem a sua recompensa, mesmo que morra injustamente. “Mas o justo viverá para sempre; sua recompensa está guardada no Senhor, e o Altíssimo cuida dele, portanto, o esplendor real será dele, e uma diadema justa do próprio Senhor” (Sabedoria 5:15).
Contudo, isso não deve ser entendido como a mentalidade geral do cristão de hoje. Mesmo que o contato com o helenismo tenha promovido a aceitação de um destino feliz apenas para a “alma”, os judeus permaneceram firmemente ligados à ideia de superar completamente o sofrimento. Daí, nasce a esperança “apocalíptica”; as grandes tribulações dos fiéis são comparadas às dores do parto e preveem a vinda do Messias, que restaurará (com a ressurreição dos justos) o reinado alegre de Deus sobre a terra. Pode haver um vestígio dessa mentalidade em Apocalipse 20:4 (os mártires ressuscitam primeiro e reinam durante mil anos), mesmo que João tenha espiritualizado o tema.
Portanto, não devemos ser rápidos em ver a sabedoria da cruz prefigurada também na crença – não universalmente aceita mesmo no tempo de Cristo – de que os sofrimentos dos justos são “messiânicos”. Pois trata-se de uma compreensão global do Messianismo, e precisamente nesse ponto, Cristo varrerá toda a angústia precedente: o seu é o vinho novo em odres novos (cf. Mc. 2:22).
Se as Ideologias Eliminam a Cruz, Melhor Erradicá-las
O evento Cristo é claro: sua visão religiosa não se encaixava de modo algum nas visões dominantes de seu povo. Parece, portanto, mais adequado não tentar forçar harmonizações “para que a cruz de Cristo não seja esvaziada de seu poder” (1 Cor. 1:17; cf. Gl. 5:11). As filosofias do pensamento moderno que desfiguram a cruz são, de certo modo, mais perigosas do que aquelas que a rejeitam abertamente, mantendo assim a grande questão sobre o significado que ela pode ter ou até mesmo se pode ter algum significado. Temos um exemplo típico de aceitação e, em seguida, rejeição da cruz de Cristo na filosofia hegeliana, na qual a cruz “entra teologicamente na lógica normal da constituição das coisas e do espírito.” (12)
“Uma característica da dialética hegeliana é o ‘poder imensurável do negativo’ e sua força histórico-dialética, ‘floração e murchamento estão eternamente conectados’, da mesma forma que a árvore da cruz.” (13) O evento histórico do Calvário aqui se perde no “eterno” divino. “Deus se forma na comunidade apenas através dos sofrimentos de sua renúncia ao ‘em si mesmo’: o absoluto, o eterno, etc., estão totalmente submissos ao tornar-se homem, ao aceitar o evento, a morte e a vida das coisas.” (14) A tentativa de Hegel de racionalizar o cristianismo deve ser rejeitada como espúria; ele aprisionou a mensagem inflexivelmente em um sistema, com uma linguagem nominalmente cristã que perdeu seu significado.
Basicamente, a especulação hegeliana é um postulado filosófico (a Ideia, a Razão, o Pensamento, o Espírito Absoluto), e seu princípio hermenêutico, ou seja, a dialética dos contrários, é também essencialmente filosófico. Um exemplo de filosofias recentes que rejeitam a cruz é o de Nietzsche, que se opõe a tudo o que toma seu significado da cruz, por sua rejeição rebelde, recíproca e radical. Essa rejeição está baseada em toda a fundação de seu sistema, com sua vontade de poder como sinal decisivo. Seu Anticristo declara que “a compaixão é a práxis do niilismo.” (15) Ele sustenta que, em vez de uma simples pregação de não-violência, o sistema cristão traiu a mensagem de Jesus: Paulo a trouxe de volta à sacralização pagã ao falar do sacrifício expiatório pelo pecado. Em qualquer caso, a cruz é vista como um obstáculo insuperável para o desenvolvimento futuro do homem; se adotar a “patientia crucis”, todo o otimismo militante em direção às fronteiras do reino é irremediavelmente extinto.
O marxista Ernst Bloch, um pensador de tipo bem diferente, segue as mesmas linhas e acusa Paulo de ter distorcido a mensagem de Jesus de Nazaré. Nas palavras de Bloch, “subjectivamente, Jesus se considerava o Messias no sentido mais tradicional. A proclamação aos oprimidos e indigentes estava cheia de um impulso socio-nazireo-profético, mais do que um desejo de morte ou uma forma exaltada de consolo espiritual… A fé de Jesus de que ele era o líder de uma nova era era tão certa que só o abandonou na cruz… no grito desesperado e totalmente concreto: ‘Meu Deus, por que me abandonaste?’ Só alguém que vê sua obra desaparecer poderia emitir tal grito…” (16) “Paulo, anteriormente um forasteiro da comunidade cristã primitiva, foi quem sugeriu o paradoxo… Jesus não é o Messias apesar da cruz, mas precisamente por causa da cruz…” (17)
Bloch, que visualiza um fio vermelho de subversão correndo por toda a Bíblia, é continuamente revogado pelas interpolações daqueles que detêm o poder sagrado… Foi “impedido pela última vez pelo mito do Cordeiro sacrificado, de modo que, a ‘paciência da cruz’, tão bem adaptada a ser recomendada aos oprimidos e tão agradável para os opressores, foi assim sancionada.” (18)
No livro mencionado, Bloch usa um lema retirado do Novo Testamento: “Quem me vê, vê o Pai”. Paradoxo óbvio: a missão de Jesus era eliminar o antigo Deus, colocando o homem em seu lugar. Algo semelhante surge de uma leitura psicanalítica das Escrituras. Nos termos freudianos, a salvação do homem é, acima de tudo, a salvação da morte, que vem pela “morte do Pai”, cujos privilégios são tomados, produzindo assim um complexo de culpa. “O génio do cristianismo seria, então, ter conseguido, através da morte e ressurreição de Cristo, matar o Pai, ou seja, libertar da lei e das consequências de sua transgressão, entre as quais estavam a morte, sua punição justa, e a vitória sobre o Pai. Não, porém, sem ser liberado de uma dívida implícita com a morte. O cristianismo se reconcilia com o Pai, mas destituindo e despojando o antigo Deus, o Pai-Deus, que assim ocupa o segundo plano; Cristo, seu Filho, toma seu lugar…” (19)
As ideologias modernas nunca trarão uma resposta às profundas e angustiantes questões da humanidade sobre a cruz. O preço que elas pedem – o ateísmo – não pode ser pago. O pensamento ocidental contemporâneo rejeita a cruz como práxis, pois é contrária a uma sociedade permissiva e consumista. Ela a rejeita como teoria, pois é incapaz de introduzir a sabedoria da cruz nos sistemas fechados e absolutizantes – psicológicos, sociológicos, filosóficos – que dominam o pensamento e a experiência da civilização de hoje. Trata-se de um desafio frontal e é de capital importância começar do ângulo correto para dar credibilidade à sabedoria da cruz.
Acreditamos que o renascimento dessa sabedoria, como tem aparecido nos últimos anos, é acompanhado precisamente de uma nova percepção da sua autenticidade. Isso não vem de mitos nem de construções ideológicas sofisticadas, mas diretamente da experiência histórica de Jesus de Nazaré, a quem nos aproximamos com maior confiança, graças às ferramentas críticas disponíveis, mas ainda mais graças à entrada do Jesus vivo no nosso mundo contemporâneo, uma obra que Ele está realizando precisamente para aqueles que estão mais próximos Dele na cruz. Como Edith Stein escreveu: “A sabedoria da cruz só pode ser adquirida se alguém experimentar pessoalmente todo o peso da cruz.”
III. O QUE JESUS PENSAVA SOBRE SUA CRUZ
Para alcançar a sabedoria da cruz, ou seja, seu significado último para cada pessoa de fé hoje, pretendemos investigar o significado da cruz para o Jesus pré-pascal, apesar de todos os problemas que isso implica. Certamente não seremos capazes de adotar uma posição independente esgotando a questão por nós mesmos, mas simplesmente apresentaremos os resultados de estudos recentes que estão cada vez mais tranquilos. Pelo menos do lado católico, estes parecem ter alcançado um equilíbrio positivo entre o ceticismo racionalista e o fideísmo ingénuo.
É amplamente aceito entre pessoas com pouca ou nenhuma fé que se pode provar cientificamente que a teologia eclesial é uma construção puramente humana. De fato, essa opinião é fortemente influenciada por teorias no estilo de Bultmann, que ou negam a possibilidade de compreender o pensamento do Jesus pré-pascal, ou que realmente não seria de interesse tentar fazê-lo. Bultmann escreve: “O olhar está fixado unicamente no que Jesus quis e, portanto, no que pode se tornar real como um requisito da sua existência histórica. Esta é outra razão para eliminar o interesse pela ‘personalidade’ de Jesus. Não que eu queira fazer uma virtude da necessidade, na verdade, estou firmemente da opinião de que não podemos saber nada mais sobre a vida e a personalidade de Jesus, pois as fontes cristãs estavam interessadas nisso apenas de uma forma muito incompleta, misturadas com lendas, e porque não existem outras fontes sobre Jesus.” (1)
Sobre a Paixão, Bultmann é explícito: “Indubitavelmente, Jesus morreu na cruz como um profeta messiânico, nem mais nem menos do que outros agitadores.” (2) “Os relatos fragmentários e lendários do fim de sua atividade iluminam esse fato.” (3) “Completamente alheio a Jesus está a aceitação da pretensão humana de que para ele o destino deveria ser inteligível e merecer uma resposta afirmativa. Ele não deixou ao homem uma explicação inteligente para o sofrimento, assim como não a deixou para sua paixão.” (4)
Dois artigos que apareceram no Corriere della Sera por Augusto Guerriero, em 1972 e 1973, merecem ser notados. No primeiro, “Do Jesus histórico ao Cristo da fé”, ele escreve: “O grande problema persiste; ou seja, a impossibilidade de sabermos como Jesus interpretou sua própria morte; não podemos saber se ele encontrou significado nela.” Isso contrasta com a tese do biblista católico Zedda, cujo ensaio ele comenta, “O Jesus Histórico nos Inícios da Cristologia no Novo Testamento”. No segundo artigo, o mesmo escritor comenta outro estudo de M. Bouttier: “Do Cristo da História ao Jesus dos Evangelhos” e que “o grande problema consiste na impossibilidade de saber como Jesus interpretou sua própria morte. Ele encontrou algum significado nesse destino absurdo?” Ele afirma que, enquanto Jesus pregava o evangelho do reino, os apóstolos pregavam Cristo. O escritor sustenta que não há continuidade. A igreja primitiva teria inventado uma figura de Cristo para servir ao kerygma.
A Posição Católica sobre o Cristo Histórico
O “Jesus histórico” deve ser cuidadosamente distinguido do “Jesus pré-pascal”. O problema do primeiro é tipicamente histórico, mas não soteriográfico. A historicidade que os católicos mantêm pela fé é, por assim dizer, “eclesial”, como o Vaticano II explicou claramente. “A Santa Mãe Igreja tem firmemente e com absoluta constância mantido e continua a manter que os quatro Evangelhos, cujos autenticidade ela afirma sem hesitação, transmitem fielmente o que Jesus, o Filho de Deus, enquanto viveu entre os homens, realmente fez e ensinou para a sua salvação eterna, até o dia em que Ele foi arrebatado (Atos 1:1-2). Pois, após a Ascensão do Senhor, os apóstolos transmitiram aos seus ouvintes o que Ele disse e fez, mas com aquele entendimento mais pleno que eles, instruídos pelos gloriosos eventos de Cristo e iluminados pelo Espírito da verdade, agora gozavam… mas sempre de forma que nos contaram a verdade honesta sobre Jesus. Se confiaram em sua própria memória e recordações ou no testemunho daqueles que ‘desde o início foram testemunhas oculares e ministros da Palavra’, o objetivo de escrever foi para que pudéssemos conhecer a ‘verdade’ sobre as coisas das quais fomos informados.” (5) (Cf. Lucas 1:2-4)
Todos concordam que os evangelhos não foram escritos para fins históricos. Seria ingênuo supor que alguém pudesse escrever uma biografia de Jesus; nem tentaríamos fazer uma “Jesuologia”, reconstruindo sua personalidade humana como uma história. Mas é de suma importância ter a certeza de que, quando os apóstolos pregaram, efetivamente retornaram ao que o Senhor lhes fez entender, de alguma forma, já antes da Páscoa (cf. João 2:22), onde os textos falam das palavras de Jesus sobre sua capacidade de levantar o templo destruído pelos judeus em três dias, e acrescenta: “Quando, portanto, Ele ressuscitou dos mortos, seus discípulos lembraram-se de que Ele tinha dito isso; e creram nas Escrituras e na palavra que Jesus havia falado.”
João está bem ciente dessa necessidade. Em seu Evangelho, Jesus, na Última Ceia, diz que a tarefa do Espírito que viria seria “trazer à memória tudo o que eu vos disse” (Jo. 14:26), e que Ele “vos guiará em toda a verdade; pois não falará por sua própria autoridade, mas… tomará o que é meu e vo-lo declarará” (Jo. 16:13ss).
A pregação apostólica não criou a sabedoria da cruz “ex novo”, nem de forma pneumática. A aplicação de métodos críticos ao estudo dos evangelhos levou agora ao estabelecimento da continuidade entre o Cristo histórico e o Cristo da fé, ultrapassando assim irreversivelmente Bultmann.(6)
Então, temos a figura histórica de Jesus como esboçada e distinguida do “Cristo histórico” pregado na Igreja primitiva. Conseguimos retroceder mais facilmente, além da testemunha da igreja primitiva que reuniu as palavras, atitudes e pensamentos de Jesus (os ipsissima verba, facta, intentio Jesu). Vários exegetas católicos e protestantes têm se dedicado a essa tarefa. Seus resultados têm sido um ponto de partida sólido, independentemente de como foram articulados, para respostas a questões sobre o Cristo pré-pascal.(7)
Alguns teólogos tendem a ser totalmente otimistas e dar os resultados de sua pesquisa como certos, identificando a exposição dos dados dados nos quatro Evangelhos da Paixão, sem hesitação, como o “pensamento de Jesus”. Por exemplo, J. Galot, “Uma vez que as afirmações da… comunidade primitiva não podem ser explicadas simplesmente como a autenticação da morte de Jesus e suas circunstâncias, elas sugerem que a interpretação teológica e soteriológica que elas implicam tem sua origem nas palavras de Jesus próprio. Jesus tomou muitas ocasiões para indicar como Ele entendeu sua própria morte…”(8)
Outros teólogos são mais cautelosos. Entre estes, Flick-Alszeghy: “O problema mais radical, sem dúvida, é a atitude de Jesus em relação à Sua Paixão e Morte, ou seja, se Ele a previu, como Ele a previu e que significado Ele lhe deu. Pensamos que os métodos soteriográficos mostram como provável que Jesus previu sua morte violenta e que Ele lhe deu uma função salvífica… A verificação soteriográfica da narrativa evangélica da Paixão é relativamente interessante para a teologia.”(9)
De fato, a questão é muito importante. Como diz o texto citado acima, “uma comparação entre a descrição histórica e evangélica revela a intenção pedagógica dos hagiógrafos, ou seja, ‘a teologia da cruz’ construída pelos próprios autores sagrados.”(10) Isso é precisamente o que queremos alcançar. A inculturação da teologia da cruz de hoje será totalmente libertada de outra maneira; sendo baseada no Novo Testamento, entendido acima de tudo como um método a ser aplicado por analogia, enquanto, necessariamente, com base no autoconhecimento de Jesus como seu dado de fé primordial e imutável.
De um Monofisismo Fantasma ao Realismo Contemporâneo
No início, falamos de um fideísmo ingénuo, como agora falamos de um monofisismo fantasma. Após ter varrido o ceticismo mais ou menos racionalista, resta um último obstáculo para a pesquisa sobre a forma como o Jesus pré-pascal viu sua cruz. É de fé que Ele possuía um grau supremo de conhecimento infundido e a visão beatífica, e que, mesmo como peregrino na terra, Ele via tudo com extrema lucidez, não apenas como os hagiógrafos falaram no Novo Testamento, mas de uma maneira muito mais sublime. G. Moioli trata dessa delicada questão de forma magistral, e seguimos seu pensamento.
“Christologia sentiu-se obrigada a repensar-se como ‘a Cristologia de Jesus’, comparando uma imagem ‘histórica, evangélica’ de Jesus com uma construção teológica derivada do escolasticismo medieval sobre o problema preciso do ‘conhecimento’ e ‘consciência’ de Jesus.”(11) Entre outros pontos particulares, surge a questão do conhecimento de Jesus sobre sua morte como morte salvífica(12) e as “coordenadas de interpretação sacrificial e satisfatória da morte de Jesus – ou seja, solidariedade e teocentrismo – que nos são dadas nos textos evangélicos como presentes à própria consciência de Jesus.”(13)
Na teologia medieval, a questão “o que Cristo sabe?” – ao se referir ao Jesus pré-pascal – foi dada uma resposta dedutiva. Pela sua união hipostática e sua humanidade autêntica, Jesus como homem possui conhecimento em um nível beatífico, tanto infundido quanto experimental. Os dois primeiros níveis não apresentam dificuldades, enquanto paradoxalmente há hesitação em justificar o uso do terceiro nível. “Há aqui uma tendência para o Monofisismo, para o qual uma correção é buscada, por exemplo, em Boaventura e Tomás…”(14) Nos séculos posteriores, houve adaptações na maioria dos casos. Uma mudança veio com a crise modernista, que praticamente abriu para discussão o conhecimento beatífico e infundido. Em 1918, o Santo Ofício interveio afirmando que isso não poderia ser ensinado “com certeza”.(15) Isso não impediu as especulações. Hoje, em vez de visão beatífica, preferimos falar do autoconhecimento humano que Jesus tinha sobre sua filiação divina.(16)
Rahner, em particular, explica a necessidade de distinguir entre autoconhecimento atemático e temático e que a passagem para o conhecimento explícito vem com o próprio amadurecimento do indivíduo através da experiência de vida. “A orientação parece aceitável em si mesma.”(17) Quanto ao conhecimento infundido, no contexto dado, foi interpretado como o funcionamento da iluminação profética e em certo grau da missão de Jesus: iluminação de tipo salvífico-religioso que não é a experiência, mas seu quadro e interpretação em uma síntese mais profunda e radical. “Deve-se entender que Cristo era um homem de seu tempo; e que seu tipo de genialidade tem um caráter religioso.”(18) “Não se trata de religiosidade genérica… mas de uma religiosa hebraica… Nesse ambiente, o conhecimento de Jesus foi realmente ‘construído’ e Ele se mostrou um gênio religioso… sobretudo e sempre com uma capacidade maravilhosa e desconcertante de ‘reler’ de modo a ‘completar’ a antiga revelação de maneira qualitativamente nova.”(19)
Por mais difícil que pareça, devemos eliminar o “doce veneno do Monofisismo.”(20) Soava muito piedoso e conforme à antiga tradição (pelo menos de acordo com a interpretação dos cristãos platônicos!) reduzir a natureza humana de Cristo a um corpo aparente (Docetismo) ou deixá-la ser penetrada pela divindade e absorvida a ponto de ser, em forma, nada mais que o traje de Deus… (21)
A remodelação descrita… nos dá uma imagem da vida intelectual de Cristo que está muito mais próxima de sua figura evangélica… O Cristo ‘segundo a carne’ não é um ‘compreensor’ que milagrosamente não vive em um estado de transfiguração, mas um homem verdadeiramente vivendo uma experiência humana, que a interpreta com a profundidade e a finalidade únicas segundo a “sabedoria” divina – “vendo” a si mesmo como o único Filho de Deus.”(22)
A Terrível Experiência Humana de Jesus
C. Porro é um cuidadoso estudioso do autoconhecimento de Jesus, que mantém contato com os autores mais recentes e confiáveis. Já em 1972, ele concluiu que, em Jesus, havia uma conscientização progressiva de seu fim, e, em particular, sobre o significado de sua missão como Servo de Yahvé. Daí, surge a busca por um significado para sua morte iminente.(23) Outro de seus estudos analisa particularmente as previsões da Paixão atribuídas a Jesus, para mostrar como elas unem a previsão natural que Jesus tinha de sua morte com o profundo sentido de sua identidade.(24) Porro é mais cauteloso neste ponto em seu estudo de 1977 citado acima.(25) Mas os elementos essenciais são reforçados. “A parábola dos lavradores maus (Mt. 21:33-46) é uma prova histórica da conscientização de Jesus de que Ele estava avançando em direção a uma morte violenta; assim como as referências ao cálice que Ele deve beber e ao batismo com o qual Ele deve ser batizado (Lc. 10:39; Mt. 20:23) e seu convite aos discípulos para segui-lo até o fim, sem temer aqueles que poderiam matar o corpo (Lc. 12:4ss; 14:27).”
“Decisivo também é o comportamento de Jesus ao subir para Jerusalém em direção ao seu fim: bem ciente do destino dos profetas e de João Batista, Ele não recuou; ao contrário, estava convencido de que sua própria morte era o resultado lógico de suas ações, sua solidariedade com os pecadores, a autoridade que Ele reivindicava, que interpretava como a vontade de Deus em várias ocasiões. Mas será que Jesus queria essa morte? Estudos críticos recentes tendem a dar uma resposta afirmativa a essa questão. Na verdade, parece que o Jesus histórico queria essa morte, ou pelo menos, é certo que Ele estava preparado para um destino de morte determinado pelo seu comportamento. Pois, mesmo quando viu claramente a oposição que poderia esperar, não apenas Ele não fez nada para apaziguá-la, mas de fato a provocou.”(26)
Entre os autores que Porro sintetiza, alguns merecem ser notados por sua pesquisa séria e certos aspectos de sua contribuição. J.L. Chordat fez um estudo crítico do evangelho de Marcos para descobrir as palavras que a comunidade atribuiu a Jesus e aquelas que voltam a Jesus mesmo. E ele conclui que “a partir de um certo momento (mas impossível de especificar) Jesus entendeu que a percepção especial que ele tinha de si mesmo e sua vocação o levaria à sua morte. Primeiro sob forma de imagens, depois com plena clareza, Ele preparou seus discípulos… O relato de Marcos nos apresenta um homem com clareza mental caminhando em direção a uma morte que ele previu, que vive com angústia interior, solitário, pego entre a traição de seus amigos e a hostilidade dos outros, um ser completamente humano, sofrendo até o grau mais intenso, mas na grandeza absoluta da liberdade…”(27)
A. George admite que, como toda pesquisa histórica, esta também será muitas vezes mais probabilidade do que certeza. Mas desses estudos, alguns podem ser retomados. Jesus viu a morte chegando, o que seus discípulos também estavam cientes e – como todos os profetas – Ele estava menos preocupado em antecipar os detalhes do que em dar-lhe um significado. Jesus encontrou a morte com extrema coragem. Mas Ele não deixou de vê-la como um mal, “o crime daqueles cuja iniciativa e responsabilidade eram (a Sua não era suicídio) e assim poderiam se condenar.” Antes de Sua Paixão, Jesus denunciou os assassinos dos profetas (Mt. 23:29-37; Lc. 11:47-51; 34-35). A principal razão para sua agonia em Getsêmani parece ter sido a perspectiva da perda do povo que O rejeitava. Na raiz desse mal, as palavras com as quais Jesus denunciou Satanás podem expressar o pensamento do Mestre.”(28) (Lumiere et Vie 1971, #101, p. 50)
M. Bastin compara cerca de vinte passagens importantes do Evangelho (e suas variantes sinóticas) elaborando um método rigoroso que destrói o ceticismo radical de Bultmann. Ele estuda em particular os textos hebraicos de Qumran, os escritos apócrifos e a literatura rabínica para trazer, com surpreendente realismo, o horizonte histórico no qual a “jornada” de Jesus a Jerusalém está situada. “Não basta extrair a figura de Jesus de uma vestimenta eclesial, também temos que mostrar que Ele não está misturado com as correntes judaicas de sua época… Mas o critério da dessemelhança é incompleto. Ele ignora todos os casos em que o pensamento de Jesus estava enraizado no solo palestino que era o seu.”(29)
H. Schuermann, também, estudou e elaborou seus resultados no contexto de um “crescimento do interesse pelo Jesus pré-pascal”(30), demonstrando que “mesmo antes da Páscoa, Jesus entendeu e enfrentou sua morte com uma atitude pré-existente… oferecendo salvação escatológica com uma atitude de serviço…”(31) A metodologia irrepreensível de Schuermann talvez não leve a resultados extraordinários quantitativamente, mas permite que sigamos a ideia central essencial, o “pro nobis” encontrado então no kerygma paulino mais primitivo da Paixão [1 Cor. 15:3].(32)
Mas o estudioso que parece ter centrado melhor o problema e resolvido-o com mais sucesso é Jacques Guillet.(33) Ele deu tanto peso ao autoconhecimento de Jesus que dedicou um artigo inteiro sobre “JESUS”, escrito para o “Dictionnaire de Spiritualité” . Ele explica de maneira especial como Jesus confiou aos seus amigos que estava indo em direção à sua morte. “Essas confidências são incomparáveis; elas dão consistência à consciência de Jesus indo para sua morte que de outra forma permaneceria inexplicável. De um lado, Ele é claro demais para ignorar a força da oposição que se levanta contra Ele… por outro lado, Ele entra nessa aventura de sua vida e morte consciente de uma missão que Ele sempre define em referência ao Antigo Testamento… missão transcendente análoga à dos profetas, uma consciência de ser o seu zênite e cumprimento de uma maneira única.”(35)
Este artigo é de uma perspicácia e profundidade excepcionais sobre o último período da vida de Jesus antes da Paixão e sobre os eventos da Sexta-feira Santa.(36) O capítulo sobre as previsões da Paixão tem importância especial. “A percepção de Jesus sobre sua Paixão e sua previsão de sua vinda são ambas certas quanto ao evento, dependentes de uma previsão natural e intuições… e misteriosas quanto ao seu significado. Do ponto de vista da forma literária e composição dos Evangelhos, a linguagem que Jesus usa para prever sua Paixão é certamente única em tom e alcance, implicando um conhecimento misterioso e além de nós; mas este é o conhecimento de um homem, e a isso temos acesso.”(37)
“Fala de Jesus nos Evangelhos não é a de um visionário decifrando um futuro prestes a se desenrolar diante dele, mas é a linguagem de um homem enviado por Deus, consciente de sua missão e seus resultados, lendo à luz dos eventos que se aproximam, que, como todos, Ele vê se aproximando Dele.”(38)
“Há algo único e totalmente humano, mas acessível a nós, no conhecimento de Jesus. Porque a certeza de estar no centro da ação de Deus, que é a sua unicidade… pressupõe um curso duplo, mas complementar, embora ambos pertencentes ao nosso mundo. Jesus vê seu futuro e sua Paixão sob uma luz dupla… sua visão clara do mundo faz com que Ele tenha certeza de que não escapará da morte que está sendo preparada para Ele. Sua certeza de ser o ponto final das Escrituras dá-lhe a garantia de que esta morte é o zênite da obra de Deus, o cumprimento de Suas promessas e a salvação do homem… Sua consciência vem de uma profundidade que se perde para nossa vista, mas percebemos nela um ser real; não uma estrutura mítica, mas um mistério tanto revelado quanto dado.”(39)
Como Jesus Expressa o Valor Salvífico da Cruz
E assim chegamos ao ponto crucial: do ponto de vista crítico, como estabelecer a forma como Jesus expressou sua consciência sobre o valor salvífico de seu trágico fim. Esta é a sabedoria da cruz propriamente dita, mas deve ser tratada com muito cuidado, para que seja o núcleo autêntico de toda reformulação moderna da mesma sabedoria e não nos feche em uma prisão sem saída. “Os resultados de uma pesquisa histórica sobre a consciência de Jesus, o Homem, diante de sua morte são muito valiosos… Contudo, neste ponto devemos observar um grave perigo escondido nesta mesma pesquisa. Embora certamente legítima, até indispensável, oferecendo novas percepções sobre a consciência humana de Cristo, ao mesmo tempo, ela é insuficiente como base para um discurso teológico.”(40)
Jesus interpretou sua morte nas categorias do Antigo Testamento e devemos entender seu significado. Mas hoje não estamos confinados a elas e o campo está aberto para decidir quais categorias podem ser usadas para expressar adequadamente a mensagem divina de salvação (à luz das referências culturais modernas em nossas teologias). Ao dizer isso, também queremos reafirmar que a obra de Jesus, o Messias, abrange toda a sua vida e morte terrenas, mesmo que mais tarde tenha sido desdobrada e seu significado compreendido pelos discípulos somente após a ressurreição e o Pentecostes.(41) Isso, de fato, dá valor salvífico a esses eventos também, mas apenas como correlatos de um evento único, sendo a ressurreição apenas a ‘definitividade’ perene e redimida da sabedoria da cruz.(42)
Voltaremos a este ponto. Fora uma faixa irredutível de críticos radicais, todos os estudiosos bíblicos concordam que o ponto culminante da plena consciência ativa de Jesus sobre seu fim é expresso na Última Ceia. Vamos concentrar-nos nisso, embora a exegese de outras passagens ao longo dos evangelhos seja muito impressionante. “A ceia não é apenas a última previsão da Paixão, a última chance para Jesus mostrar o que está prestes a acontecer com Ele e que Ele sabe o porquê; é uma criação na qual Jesus dá o significado da morte que Ele vai sofrer.”(43)
Os problemas interpretativos da narrativa são muitos; de fato, nos evangelhos, ela passa a ser construída em torno do modelo das celebrações eucarísticas. Mas “certamente a atmosfera pascal envolve a última refeição de Jesus…”(44) Este vínculo foi sem dúvida desejado pelo próprio Jesus. Pela sua intenção clara e deliberada, devemos medir a amplitude, pois Ele “transforma o aspecto tradicional dessa ceia profundamente, dando-lhe assim um novo significado.”(45)
Jesus gosta de manter e ressaltar os traços familiares do rito pascal já existente nos costumes judaicos: celebração em intimidade, não no templo.(46) Dentro desse quadro, Jesus realiza um gesto profético, Sua autoentrega no pão partido e no cálice compartilhado. Um gesto incrível, pois passa sobre o evento de Sua morte como se já tivesse ocorrido e faz presente o futuro reino. Sentados à mesa estavam o traidor, aquele que “entrega” Jesus, e Jesus, aquele que “é entregue”. Jesus vira a situação do pecado satânico de cabeça para baixo, fazendo da traição que O entrega (vendo o Pai por trás de tudo, como desde a Encarnação Ele ‘O entregou’ ao mundo) o insuperável dom da vida para aqueles que Ele ama.(47)
É muito difícil, sem fazer violência aos textos, remover das palavras de Jesus a referência ao sacrifício e à aliança. Jesus não se detém apenas em pôr fim ao mundo do pecado por meio do Seu perdão. Ele abre um novo mundo por um gesto de instituição. A aliança constitucional implica a certeza de iniciar um mundo cuja lei será o seu evangelho e cujo estilo será a certa expectativa do cumprimento glorioso do reino. Aqui, o fundamento não é o rito – que na verdade é reduzido ao mínimo – mas a certeza de que Jesus está indo para o Pai vitoriosamente, agradável a Ele, como a ressurreição mais tarde demonstrará.(48)
A Luminosa Escuridão do Calvário
Após o cenáculo, a tremenda experiência de Jesus será consumada em Sua verdadeira Paixão. Passando por complexos problemas exegéticos sobre o relato, queremos apenas mostrar que a perfeita e humana consciência de Jesus é confirmada de forma esmagadora e paradoxal desde o início, em Getsêmani, e no final, no último grito desconsolado de Sua agonia na cruz.
A cena escandalosa de Getsêmani nos assegura que a humanidade de Jesus nunca esteve de forma alguma “armada” contra os eventos. “Sua desilusão e sua violenta reação humana diante da morte são fielmente transmitidas por Marcos, que geralmente não se detém em questões de psicologia. Esse aspecto será progressivamente atenuado na tradição evangélica posterior.”(49)
No entanto, foi em Getsêmani que Jesus confirmou sua certeza de ser o amado do Pai, bem como sua liberdade para se entregar aos Seus desígnios misteriosos. “Marcos é o único a reproduzir a forma original aramaica (abba), que deve ter impressionado os testemunhos; foi reconhecida como uma ‘ipsissima vox’ preservada com precisão. Vale a pena também notar que Marcos raramente descreve a oração de Jesus (somente duas vezes além da ceia) e nunca seu conteúdo. A menção tripla da oração deve, sem dúvida, indicar que Jesus renovou e prolongou sua oração.”(50)
E o conteúdo é surpreendente: é a afirmação de que a “maneira” da salvação pela cruz depende, afinal, da escolha do Todo-Poderoso. E é de suma importância para Jesus e para nós que assim permaneça, para que liberdade e não fatalidade se façam presentes. Por mais intensa que seja a tentação de distanciar essa “hora”, na realidade a salvação chega precisamente quando “chegou a hora” (Mc. 14:35,41). Após a captura, julgamentos e torturas que reduziram Jesus a um “verme”, Ele agoniza na cruz naquela misteriosa escuridão que cobriu a terra (cf. Mc. 15:33). Aqui, também, é de extrema importância que os dois evangelhos sinóticos mais primitivos tenham preservado a única palavra escandalosa, “Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste?” (Mc. 15:34). “É a última palavra que os evangelistas poderiam ter inventado, e tê-la preservado em aramaico é de um valor histórico único.”(51)
Ela expressa o significado do fracasso total que Jesus, falando humanamente, sente de forma trágica e sem alívio. Mas é também e sempre o diálogo com o Pai que constitui o fio da Sua existência. Deus permanece “seu” Deus! E não é por acaso que, após essa morte atroz, Marcos coloca a profissão de fé do centurião (cf. Mc. 15:39). Na realidade, neste ponto, mistério e revelação são uma coisa só; a sabedoria da cruz terá que arriscar tudo ao penetrar o vínculo divino entre a vida de Cristo – e o discípulo chamado a segui-Lo – e a certa e antecipada vinda do reino, precisamente quando a cruz sela essa existência.
IV. DA BÍBLIA À TEOLOGIA
Como uma semente frutífera, o núcleo imutável da consciência de Jesus está contido no Novo Testamento, e floresce ali em inúmeras interpretações querigmáticas e teológicas, que iniciam de forma decisiva toda a história do pensamento cristão em movimento. Trata-se de declarações normativas, abundantes em inspiração bíblica, bem como declarações reunidas fora de sua expressão cultural. Portanto, tocaremos brevemente nessas formulações como encontradas no Novo Testamento. Em seguida, mostraremos como uma certa linha de sua evolução pode hoje parecer algo forçado ou, melhor, uma lacuna cultural, que é precisamente a premissa para uma busca teológica ou pastoral de re-elaboração.
Dinâmica “Descendente” no Apóstolo São Paulo
Mesmo antes dos Evangelhos tomarem sua forma final, Paulo já havia escrito suas principais cartas e expressado “o seu” evangelho (cf. Rom. 2:16) de forma autoritária e solene nelas. Poderia-se dizer que “a reflexão do Novo Testamento sobre o significado da cruz atingiu seu ápice no ‘Corpus Paulinum’, seja pela frequência com que o apóstolo retorna a esse tema, seja pela importância central que lhe dá ou pelo grau de elaboração que ele dá à função salvífica da cruz.”(1)
Uma vez que Paulo é, de fato, acusado de ter alterado o significado da cruz (ou, melhor, de tê-la inventado para superar o escândalo), devemos ter claramente em mente que, de fato, ele partiu de uma tradição pré-existente, da qual se cuida de mencionar. “Porque eu vos entreguei, como de primeiro importância, o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras…” (I Cor. 15:3). Essa declaração primitiva nos lembra da fórmula paulina da instituição da Eucaristia. “Este é o meu corpo, que é dado por vós…” (I Cor. 15:3). E a fórmula de Marcos, “Este é o meu sangue da aliança, que é derramado por muitos…” (Marcos 14:24).
Os estudiosos concordam que aqui, pelo menos na primeira comunidade cristã, sem falar com quase absoluta certeza do próprio Jesus pré-pascal, temos uma referência à profecia de Isaías sobre o servo de Yahvé. “Assim, meu servo justificará a muitos, levando sobre si a pena da sua culpa… Ele levou o pecado de muitos…” (Is. 53:11ss). Assim, parece claro que com Paulo alcançamos o ápice da revelação de Jesus e a renovação do entendimento do Antigo Testamento através da passagem chave de Isaías. A referência ao servo é tão arcaica que logo desaparece do Novo Testamento. As referências mais claras a esse “título” cristológico podem ser encontradas nos Atos 3 e 4, no contexto do querigma petrino.
Do ponto de vista literário, isso não influencia muito Paulo; mas ele faz disso a base de sua interpretação “descendente” do valor salvífico da cruz. De fato, seus elementos mais importantes são extraídos daí: o Servo é o escolhido de Deus, seu mensageiro; o “braço do Senhor” age nele de uma forma que ninguém poderia ter imaginado, ou seja, através de humilhações e sofrimentos. O valor de seu trabalho vem da liberdade, obediência e humildade com que ele sofre.
Uma passagem igualmente bem conhecida em Filipenses 2:7 pode ser comparada com I Coríntios 15:3: “…Ele se esvaziou, tomando a forma de servo…” De acordo com as conclusões amplamente aceitas, aqui também, Paulo retoma um hino litúrgico pré-existente, no qual a explicação da cruz é o contraste, humilhação-exaltação. Para nós, a referência ao “servo” e sua “obediência” são os principais fatos. A terceira passagem importante é a tipicamente paulina Romanos 5:12-21. O versículo 19 mostra claramente que o apóstolo estava pensando no “servo” do Livro de Isaías. “Pela obediência de um, muitos serão feitos justos” – o que é uma alusão a Isaías 55:11 (“meu servo justificará muitos”). No texto isaiano, a palavra “muitos” é um hebraísmo para a multidão, a totalidade. E é precisamente essa extensão universal da salvação que é característica da antiga profecia, pouco aceita antes de Cristo, mas que se torna a pedra angular do pensamento paulino.
Em suas cartas, encontramos Paulo usando uma variedade de categorias para expressar a eficácia salvífica da morte de Jesus. Embora seja um erro sistematizar com facilidade os vários dados da teologia paulina da cruz, há certos elementos bem documentados que, segundo os exegetas, são reconhecidos como provenientes do pensamento de Paulo. O mais importante é o caráter absoluto da iniciativa divina. “Em todo o evento da cruz, o autor da salvação é o Pai. Sua atitude para com a humanidade não é alterada pela cruz, ao contrário, a cruz é o instrumento de Sua vontade salvífica.”(2) “Deus mostra o Seu amor por nós, que, enquanto éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós” (Romanos 5:8). “Tudo isso é de Deus, que, por meio de Cristo, nos reconciliou consigo mesmo… isto é, em Cristo, Deus estava reconciliando o mundo consigo mesmo” (2 Cor. 5:18a). “O Pai quis… por meio de Cristo, reconciliar consigo mesmo todas as coisas, seja na terra, seja no céu, fazendo a paz pelo sangue da sua cruz.” (Col. 1:19ss).
É óbvio, então, que o primado da graça é a chave para a leitura de São Paulo. A salvação é um puro dom de Deus. Os estudiosos vão mais longe e falam de uma dupla expressão dessa verdade, uma “negativa” e a outra “positiva”. A visão negativa (enfatizada especialmente pela teologia protestante) está no “não” – na cruz – Deus diz ao homem, que, por si mesmo, ele não pode de forma alguma obter sua própria salvação. A inutilidade de todos os esforços de Jesus antes do evento Pascal, que esses teólogos concordam em dizer que atingiu seu ápice precisamente “na sua hora”, simboliza e torna claro (historicamente também) que o homem não pode fazer absolutamente nada. As declarações mais radicais de Paulo devem ser lidas sob essa chave. “Porque Deus fez o que a lei, enfraquecida pela carne, não podia fazer; enviando seu próprio Filho na semelhança da carne do pecado e pelo pecado, Ele condenou o pecado na carne” (Romanos 8:3). “Por nossa causa, Ele fez aquele que não conheceu o pecado, pecado por nós, para que nele pudéssemos nos tornar a justiça de Deus” (2 Cor. 5:21). “Cristo nos resgatou da maldição da lei, tornando-se maldição por nós – pois está escrito: ‘Maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro’” (Gál. 3:13).
A visão positiva (geralmente sustentada pelos católicos, mas não exclusivamente) é o “sim” do Pai à humanidade, alegrando-se com o “sim” pronunciado – através de Cristo obediente até a morte – a Ele, mantido fiel até e além da morte do homem, para honrar a Sua própria promessa (a Aliança) jurada antes da criação. Novamente, os textos de Paulo são explícitos. “Porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, não foi ‘Sim’ e ‘Não’; mas nele é sempre ‘Sim’. Pois todas as promessas de Deus encontram o seu ‘Sim’ nele.” (2 Cor. 1:19ss). “Porque os dons e o chamamento de Deus são irrevogáveis… Porque Deus aprisionou todos os homens na desobediência, para que tenha misericórdia de todos.” (Rom. 11:29, 32). “Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o Seu próprio Filho, mas O entregou por todos nós, não nos dará também, com Ele, todas as coisas?” (Rom. 8:31-32). “Tende este modo de pensar entre vós, que também houve em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus… se fez obediente até a morte, e morte de cruz… Portanto, Deus O exaltou soberanamente…” (Fil. 2:5-11).
Examinados mais de perto, as duas visões não são incompatíveis; de fato, na análise final, elas se encontram. A obediência que atrai a aprovação de Deus, o Pai, é, na verdade, aquela pela qual o Filho de Deus aceita Sua “fracasso” “sacramental” intra-histórico, deixando-nos Sua mente como herança. Mas o homem que está disposto a viver sua vida com base nessa obediência como fundamento se torna, na realidade, onipotente, uma vez que Deus [chamado Pai precisamente em referência ao “pai da nossa fé”, Abraão, pronto para sacrificar seu filho] (cf. Rom. 4:16; Gn. 22:13), não pode recusar nada a ele.
A Dinâmica “Descendente” de João, o Evangelista
O amadurecimento do pensamento cristão durante o primeiro século é atestado na teologia joanina; basicamente, ela está totalmente de acordo com as características principais do pensamento paulino que chamamos de “descendente”, mesmo que, de certa forma, siga uma linha independente. Paradoxalmente, o Jesus de João é aquele que não busca o seu próprio, mas a glória do Pai, e já aqui abaixo é glorificado em verdade, já manifestando a glória divina… “E o Verbo se fez carne e habitou entre nós… e vimos a sua glória… o único Filho que está no seio do Pai, Ele O revelou.” (Jo. 1:14, 18).
A iniciativa da cruz é inteiramente do Pai – totalmente inspirada pelo amor. “Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito…” (Jo. 3:16). Jesus falou neste sentido desde o início, aludindo à “serpente que foi levantada” (cf. Nm. 21:8-9), ou seja, à Sua cruz. Ele estava convencido de que seu messianismo humilde e recuado era o próprio caminho previsto para a salvação pelo Pai. Daí, Ele citou o que havia sido escrito sobre Ele por Moisés aos Seus opositores (cf. Jo. 5:46), repreendendo-os por “receberem glória uns dos outros, em vez de buscar a glória que vem somente de Deus” (cf. Jo. 5:44).
Repetidamente e fortemente, Jesus fala de sua absoluta intimidade com o Pai, a quem “Ele conhece” de uma maneira única (cf. Jo. 7:29; 8:55). Mas, por essa mesma razão, Ele continua repetindo: “Eu não busco a minha glória; há um que a busca e Ele será o juiz… Se Eu me glorificar, a minha glória nada é; é o meu Pai que me glorifica…” (Jo. 8:50, 54). “Quem fala por sua própria autoridade busca sua própria glória; mas quem busca a glória daquele que O enviou é verdadeiro…” (Jo. 7:18).
A morte tornará isso claro: “…Quando tiverdes levantado o Filho do Homem, então sabereis que Eu sou Ele e que nada faço por Minha própria autoridade, mas falo assim como o Pai Me ensinou.” (Jo. 8:28). O drama de Jesus está nisso, que Ele dá Seu último ensinamento através do silêncio trágico da morte. “Pai, glorifica o Teu nome… E Eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a Mim” (cf. Jo. 12:28, 32).
Portanto, a morte é o supremo paradoxo. Jesus, o Mestre, é abandonado por todos; Ele está sozinho com o Pai que permanece com Ele porque Ele é obediente (cf. Jo. 8:16, 19). Buscar a glória de Deus Pai, para Jesus, Homem e Filho, significa reconhecer que, embora Ele seja o único mediador, ainda assim “ninguém pode ir a Cristo, a menos que o Pai O atraia” (cf. Jo. 6:44, 65). E o Pai intervém em momentos que até o Filho não sabe (cf. Mc. 13:32).
Paradoxalmente novamente, enquanto não afirma fixar os tempos de Deus, essa conduta antecipa o evento escatológico no presente. É sabido que, para João, o duplo significado de “exaltação” inclui uma identificação, para Jesus, da cruz e da glória, e para a humanidade, a ressurreição (glória do crucificado) e o reino de Deus. A “hora” (ou tempo) de Jesus é toda a sua vida vivida sob o signo da cruz (renúncia à sua própria glória) e, portanto, de uma maneira muito mais concentrada, o momento de Sua morte.
E essa hora é o julgamento divino sobre o mundo, a presença da ressurreição no mundo (Jo. 5:25-29; 11:25). Este é um ponto difícil e delicado que não deve ser mal interpretado. João tem uma visão vertical e uma horizontal da história da salvação, que se encontram, mas não se anulam.
O que acabamos de dizer acima diz respeito à visão vertical. A salvação, nesse caso, deixa de lado o fluxo do tempo e se coloca no presente de cada pessoa que entra em contato e harmonia com Deus, o Salvador. Aqui, diríamos, todos aqueles que têm fé em Jesus e, portanto, adotam seu estilo de vida. “Quem vive e crê em mim nunca morrerá” (Jo. 11:26). Se essa visão for absolutizada (como, por exemplo, Bultmann), o todo se tornaria inútil. Pois, sendo algo fora da Bíblia e parte do ensinamento gnóstico, já não seria revelação.
Mas João conhece muito bem a visão horizontal da história da salvação, segundo a qual, por mais que Deus aja de cima para baixo, Ele age dentro da história e através da história. No seu discurso de despedida, Jesus prevê claramente que, após Sua morte, os discípulos sofrerão perseguições (cf. Jo. 16:2, 4, 20) e um período de evangelização (cf. Jo. 17:14-23). Ainda mais claro é o Livro do Apocalipse, que supõe esse fluxo futuro da história e seu glorioso epílogo. Estamos na trilha bíblica.
Não é difícil harmonizar os dois pontos. A salvação no sentido vertical não só não elimina o significado do fluxo da história, mas é precisamente o que transforma a história “cronológica” (ligada ao tempo cósmico) em história da salvação, ou seja, a expansão do “kairos”, o tempo significativo e oportuno. Aqui, mais uma vez, a cruz é a chave. Aceitar que a cruz é glória é decidir, definitivamente, pela pessoa, que, nessa decisão, é julgada e transferida para a vida eterna. À medida que essa “luz” se espalha pouco a pouco, o mundo todo se torna parte dela, e a história adquire seu significado definitivo.
Da Dinâmica “Descendente” para a Dinâmica “Ascendente”
O pensamento de Paulo e João está tipicamente ligado a uma dinâmica descendente. João, especialmente, faz do papel de Jesus, antes de tudo, um papel de revelador. No entanto, já está presente uma pitada de dinâmica ascendente, que, na prática, acreditamos que se tornará predominante no pensamento cristão sobre a cruz. A razão para isso está na inegável alusão que o Jesus pré-pascal faz ao sacrifício, explicando sua morte na Última Ceia e oferecendo-a como alimento para seus amigos. Aos poucos, à medida que as categorias culturais ganham mais espaço, a dinâmica ascendente tomará o primeiro lugar.
Aqui, no entanto, há necessidade de grande atenção e discernimento inteligente. Parece muito interessante parar no termo “expiatório”, que tem determinado grande parte da teologia católica. Para Paulo e João, isso permanece na linha descendente. “Cristo Jesus, a quem Deus colocou como propiciação pelo seu sangue” (Rom. 3:25). “Nisto está o amor, não que tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou Seu Filho para ser a propiciação pelos nossos pecados” (Jo. 4:10).
O termo usado por Paulo (hilasterion) corresponde ao hebraico “Kapporet”, propiciatório. É a tampa da Arca, o trono de Deus, o lugar da Sua presença. A fé consiste em aceitar que a presença definitiva de Deus é o Crucificado! Banho em seu próprio sangue, humilhado até a morte, Cristo manifesta a glória de Deus! “O termo ‘hilasterion’, aplicado a Cristo, não se refere ao bode expiatório (Lev. 16:22). Carregado simbolicamente com os pecados do povo, representava o repúdio dos pecadores por parte da comunidade e, portanto, era considerado impuro e lançado ao deserto. Mas as vítimas oferecidas a Deus sempre foram consideradas muito puras. Na simbologia paulina, o sangue de Cristo corresponde ao sangue das vítimas imoladas com as quais o ‘propiciatório’ da Arca foi ungido.”(3)
Isso fica ainda mais claro quando lembramos que o quadro necessário para nos conduzir de volta à sabedoria plena da cruz é o da Última Ceia. A ceia também coloca na luz adequada a categoria de “redenção” (ou resgate), que o Jesus pré-pascal poderia usar (cf. Mc. 10:45), mas certamente no contexto do Servo de Yahvé, aquele a quem Deus ama porque Ele dá sua vida livremente. De fato, o termo “redenção”, no contexto pascal, se refere ao termo que Deus próprio usa para expressar Sua vontade de libertar os hebreus dos egípcios com mão forte (cf. Ex. 6:6ss), considerando-se a agir como ‘go’el’, o parente próximo que deveria resgatar seu irmão da escravidão (Lev. 25:26f; cf. Is. 43:14, etc.).
O conjunto dos textos bíblicos mostra que a primeira redenção, no Êxodo, foi uma libertação vitoriosa e Yahvé não pagou resgates aos opressores de Israel. A segunda (Deuteronômio e a figura do Servo) é ainda mais gratuita e imerecida, pois o exílio foi uma punição pela infidelidade do povo. Portanto, o sangue do Cordeiro Pascal não apaziguou Deus, mas foi a glória dos hebreus que se orgulhavam dele como sinal da salvação preparada por Deus. E o sangue que marca a conclusão da aliança no Sinai (cf. Êx. 24) é típico da comunhão de um pacto selado para a vida.
Isso certamente está na mente de Paulo quando ele fala sobre a Eucaristia: “O cálice da bênção que abençoamos, não é a participação no sangue de Cristo? Não quero que sejais participantes com demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios…” (I Cor. 10:16, 20ss).
Para concluir, a categoria cultural é definitivamente superada precisamente pela transferência do rito para o fato essencial. No Cântico de Isaías 53:10, é dito do Servo: “Aquele que fez de si uma oferta pelo pecado (‘asham’) gozará de longa vida e verá os filhos de seus filhos, e em sua mão a causa do Senhor prosperará.” Claro, esse sacrifício não estava previsto entre os ritualísticos. Em qualquer caso, Jesus evita esses termos para não restringir o significado do ato pelo qual Ele livremente dá Sua vida segundo a sabedoria da cruz. Superar as categorias culturais provavelmente foi o que Jesus quis dizer quando aplicou a si mesmo (o que parece ter ocorrido no período pré-pascal) o Salmo Messiânico 110, onde o Messias é chamado de “sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque.”
Talvez, no entanto, seja precisamente aqui que começa uma certa orientação diferente na interpretação da cruz, o que é atestado pela Carta aos Hebreus. Este texto – perfeitamente em harmonia com a doutrina paulina e joanina – é inteiramente dedicado a exaltar a sublimidade do papel de Cristo, que põe fim de forma definitiva à velha lei, transcendendo-a de maneira extraordinária, precisamente porque Ele é “sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque” (cf. Heb. 5:6; 6:20; 7:21).
Mas os argumentos da Carta podem levar a substituir o evento de Jesus nas próprias categorias culturais das quais Ele tentou escapar. O que justifica a ênfase na dinâmica ascendente da sabedoria da cruz é a ênfase tocante dada ao “custo humano” que Jesus teve que pagar, e que não podemos calar se quisermos ser verdadeiramente conformados a Ele.
Os Temas Complexos da Carta aos Hebreus
O que teve uma grande influência no desenvolvimento posterior do pensamento cristão é a insistência em Hebreus sobre Jesus como o Sumo Sacerdote. Essa terminologia, como sabemos, é geralmente ausente no Novo Testamento, precisamente para evitar confusão. Mas paradoxalmente, devido ao desejo de transcender definitivamente o sacerdócio levítico, pode-se dar destaque a esse aspecto ritualístico, na liturgia cristã, ou à dinâmica ascendente dos sacrifícios na teologia da cruz.
O texto de Hebreus não nos deixa dúvidas. Sua tese é que viramos completamente uma página em relação ao Antigo Testamento. “Pois, quando há mudança no sacerdócio, há necessariamente uma mudança na lei também. Pois aquele (Jesus) de quem essas coisas são ditas pertence a outra tribo, da qual ninguém jamais serviu no altar. Pois é evidente que o nosso Senhor descendeu de Judá…” (Heb. 7:12). Além disso, Hebreus visa proclamar a singularidade e a suficiência absoluta do evento de Jesus, que torna impossível supor que haja outros do ponto de vista da salvação. “Sob a antiga aliança havia muitos sacerdotes, porque eram impedidos pela morte de permanecer no ofício; mas Jesus, porque permanece para sempre, tem um sacerdócio que não passa… Pois a lei estabelece como sumos sacerdotes homens que são fracos, mas a palavra do juramento, que veio depois da lei, estabelece como sacerdote o Filho, feito perfeito para sempre” (Heb. 7:23-24, 28).
Mais explicitamente, finalmente, Hebreus compara o novo sacrifício da obediência de Cristo ao Pai com todos aqueles da Antiga Lei, na perspectiva do Salmo 40, citado como profecia (cf. Heb. 10:5-10). Somente nesse sentido podemos falar de Cristo como “entrando no santuário com Seu próprio sangue, e alcançando a redenção eterna” (cf. Heb. 9:11-27).
Assim, chegamos ao aspecto mais positivo da dinâmica ascendente, ou seja, a grande importância do aspecto humano do sacrifício de Jesus em Hebreus. “O autor da Carta aos Hebreus teve a coragem de falar, como talvez nenhum outro teólogo da Igreja primitiva, de maneira escandalosamente humana sobre Jesus como homem, enquanto Ele é aquele que, talvez mais do que qualquer outro, acentuou mais claramente a divindade do Filho.”(4)
Do ponto de vista de Hebreus, Jesus como sacerdote leva a humanidade à sua perfeição ao se tornar perfeito Ele mesmo no sofrimento da obediência. Hebreus vê como totalmente correto que Deus “faça o líder da obra da salvação perfeito pelo sofrimento… Sendo Ele mesmo testado pelo que sofreu, Ele pode ajudar os que são tentados” (Heb. 2:10, 18). “Embora sendo Filho, aprendeu a obediência pelo que sofreu; e, sendo aperfeiçoado, tornou-se a fonte de salvação eterna para todos os que lhe obedecem…” (Heb. 5:8ss).
Por mais que Hebreus insista em afirmar que Jesus é livre do pecado (cf. 4:15; 7:26; 9:14), o ponto crucial de Seu “sacerdócio” é colocado, nesses momentos de Sua tentação, lembrando a cena chave dos Evangelhos: quando no deserto, Jesus obedece ao Pai, escolhendo um messianismo “pobre”, em vez da atitude triunfalista sugerida pelo diabo; complementar a uma cena que tem seu cumprimento explícito quando em Getsêmani Ele vence a tentação final, aceitando a cruz na perfeita abnegação de seu próprio instinto humano de preservação.
Esse é o Cristo que Hebreus quer que olhemos para buscar ânimo (cf. Heb. 12:1-3). “Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas um que foi tentado em todas as coisas, como nós, mas sem pecado” (Heb. 4:15). Assim, o Jesus de Hebreus nos salva ao nos dar “confiança”, “pois o sangue de Jesus garante nossa entrada no santuário pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu através do véu [o ‘véu’ significando Sua carne]” (Heb. 10:19ss).
De fato, esse caminho já havia sido seguido pelos justos do Antigo Testamento que fizeram a mesma escolha de uma fé pobre e obediente (cf. Heb. 11), como Jesus, que inspira e aperfeiçoa nossa fé. “Pelo prazer que estava diante dEle, Ele suportou a cruz, desconsiderando a vergonha. E assentou-se à direita do trono de Deus.” (Heb. 12:2)
Voltamos totalmente ao tempo do Servo obediente, nosso ponto de partida original. De absoluta prioridade é a atitude interior de Jesus. A ênfase no sacerdócio coloca isso em maior evidência porque Jesus “oferece”, ou seja, “dá” a Si mesmo; Ele não é simplesmente o “cordeiro” ou vítima diretamente sacrificada por Deus Pai, como a referência a Abraão poderia sugerir.
A Inflexibilidade Infeliz de Certo Tipo de Teologia
Não podemos e não desejamos aqui fazer uma revisão completa da soteriologia católica. Contudo, precisamos fazer uma breve referência para observar por que e como uma certa inflexibilidade deve ser superada, pois ela é especialmente perigosa para a ideia pastoral da sabedoria da cruz. A teologia católica tradicional sempre permaneceu ligada aos dados básicos da revelação. Mas no Ocidente, desde o tempo de Santo Anselmo, permanece um grande mal-entendido; a cruz foi observada acima de tudo em uma dinâmica ascendente e em um contexto de justiça em vez de amor.
De acordo com essa teoria, o Deus justo exige reparação à sua honra ofendida pelo pecado do homem. E, como somente um Deus pode fazer uma reparação adequada, Ele quis que Seu Filho a suprisse pela Sua morte. Não há necessidade de discutir o contexto histórico no qual Santo Anselmo tentou “racionalizar” a doutrina da redenção. Hoje, os comentaristas o justificam, eliminando de sua teoria qualquer ideia de uma “autoamor inumano” no Deus da Bíblia. No entanto, isso não muda o fato de que a maior parte da Escolástica seguiu esse caminho, o qual hoje é aceito com dificuldade. Não foi assim com Tomás de Aquino em sua “Summa Theologica”. Ele, antes de tudo, afasta as exageradas afirmações sobre a justiça divina. “Se Deus propôs libertar o homem do pecado sem qualquer satisfação, Ele não teria agido contra a justiça…”(5)
Portanto, se o Pai “entrega” Cristo à Paixão, é por respeito à dignidade do homem, ou seja, porque, assim como um homem foi vencido por Satanás, deveria ser um homem a vencê-lo. “A ação do Pai tem uma direção claramente descendente; desde o início, cheia de amor, Ele envia Seu Filho para a salvação da humanidade.”(6)
Daí, a própria Paixão, Morte, Ressurreição e Ascensão de Cristo têm, principalmente, uma eficácia descendente também “na medida em que os mistérios de Cristo têm causalidade instrumental eficiente para a salvação da humanidade.”(7) Essa eficácia instrumental é certamente difícil de interpretar, mas no geral ela é muito clara e exclui qualquer coisa vinda do homem que “mude” Deus, pacificando-O ou influenciando-O de qualquer outra forma. “Deus deseja intensamente a salvação de todos os homens e odeia intensamente o pecado… não como um desejo de receber algo do homem, mas para derramar a comunicação de Sua plenitude divina… Deus então, ao ‘entregar’ Seu próprio Filho à morte, satisfaz Sua própria Pessoa, no fato de que, mudando o coração do homem pecador pela vida, paixão, morte e ressurreição da Palavra Encarnada, Ele o sobrecarrega com dons… O triunfo de Deus não apenas vence os inimigos, mas transforma as disposições humanas… sobretudo para uma mudança ontológica das criaturas, a quem o amor de Deus restaura na graça.”(8)
Infelizmente, a teologia escolástica, mais tarde, muitas vezes se perdeu em sutilezas, sobretudo sobre a avaliação da “necessidade” da Paixão, a “perfeição” da satisfação dada a Deus, etc. A discussão, conduzida com inteligência afiada e sutil, respeitou os dados da revelação, mas os conceitos chave da racionalização não vieram da revelação, mas das ideias do pensamento jurídico, tão queridas à mentalidade da época. Isso eliminou a priori uma parte considerável da doutrina tradicional sobre a redenção, que não podia ser expressa nessas categorias (vitória libertadora de Deus e, acima de tudo, a causalidade instrumental da humanidade de Cristo) e desviou do entendimento da fé, porque deduziu da revelação afirmações fora da direção da intenção comunicativa da própria revelação, que estava inteiramente ordenada à nossa salvação.”(9)
“Essa orientação foi retomada pelo renascimento neoescolástico… tornando as ideias e opiniões rígidas. Os livros didáticos do final do século 19 e início do século 20, especialmente por causa da disputa contra o protestantismo liberal e o modernismo, lutando contra uma interpretação puramente metafórica dos conceitos usados nas pesquisas sobre o entendimento da cruz, ignoraram a analogia desses conceitos. Assim, tornaram as discussões sobre resgate, sacrifício e satisfação de Cristo, etc., estranhamente irreais.”(10)
A ideia de sacrifício foi estabelecida com métodos a priori a partir do Antigo Testamento e até das “religiões naturais” e, em seguida, aplicada à cruz, enfatizando a interpretação sacrificial dela. Não faltaram esforços (especialmente na Alemanha) para expressar a mensagem cristã em uma linguagem diferente da bíblica ou escolástica. Hoje, esses esforços também correspondem a uma necessidade fortemente sentida de uma expressão da sabedoria da cruz em categorias culturais adequadas ao homem moderno.
V. VISÕES TEOLÓGICAS CONTEMPORÂNEAS DA SABEDORIA DA CRUZ
É impossível tentar um levantamento completo dos esforços contemporâneos para expressar a sabedoria da cruz de forma fiel e inteligente. A título de exemplo e direção, falaremos de alguns. Todos eles têm em comum uma certa sensibilidade pelas categorias sagradas do passado, seja por causa dos becos sem saída em que foram conduzidos, seja pela invasão da secularização (pelo menos no Ocidente). Mas, para encontrar categorias novas, foi necessário, antes de tudo, expressar o significado da “salvação” trazida por Cristo. Chamamos isso de “a vinda certa e antecipada do reino”. É precisamente essa realidade da salvação – assim nomeada em Jesus e no Novo Testamento – que estimula o pensamento moderno, sensível às categorias futuras e transcendentais. Essas categorias sagradas, considerando sua marginalização, foram aceitas somente se, e na medida em que, as antecipações existenciais fossem credíveis.
O Homem Moderno Está Procurando Salvação? Se Sim, Que Tipo?
No século XIX, a crise de fé do cristão ocidental também se deveu à presunção orgulhosa de que ele já não precisava esperar salvação de qualquer tipo vinda do céu. O positivismo científico colocou diante de seus olhos a perspectiva brilhante de alcançar na Terra a satisfação de todos os seus desejos, enquanto as filosofias imanentistas destruíam todas as imagens de um além como sonhos. Neste século, que agora está chegando ao fim, todas as esperanças terrestres parecem ter desmoronado. As esperanças cristãs autênticas, por outro lado, estão lutando para retornar.
Em 1975, Nicola Abbagnano, falando para teólogos italianos, admitiu que o homem, em sua busca incansável para escapar da instabilidade inerente à sua existência, falhou por todas as estradas que percorreu na história. Não há garantia, mas a história e a experiência nos obrigam a não tomar essa ausência de segurança na ordem imanente como uma condenação à perdição. O homem continua lutando para criar aquela ordem salvífica que ele já não reconhece funcionando na natureza e na história.
Parece que os fatores importantes dessa nova consciência são, pelo menos, dois: o crepúsculo dos deuses e o surgimento do Terceiro Mundo. A utopia marxista e a esperança tecnológica desapareceram, considerando sua incapacidade óbvia de salvar o homem de sua alienação última e mais profunda. Nem a liberdade total para a abundância, nem a justiça social imposta pela força foram produtivas. A “qualidade” da vida está em um declínio alarmante. Mais decisivo ainda, talvez, seja o forte surgimento do Terceiro Mundo, que abalou a política e a economia mundiais. Criou um forte complexo de culpa e um medo ambíguo de regressão no Ocidente, enquanto no Terceiro Mundo cresce o desejo irresistível pela sua própria libertação integral. Olhamos para sua “sabedoria” como horizontes que nos mostram novamente a realidade do “invisível” e seu poder salvífico.
Assim, toda a antropologia também se torna soteriologia, ou seja, uma busca pela verdadeira essência do homem, começando por aquele “ainda-não-homem” que descobrimos ser. Um exemplo disso é Moltmann em seu ensaio “O Homem” que vê o homem como liberdade e abertura, como um “enigma”, cuja resolução de maneira rígida seria equivalente à liquidação definitiva do próprio homem, que só pode se tornar continuamente. “O homem não conhece sua fórmula”, disse Dostoiévski. À pergunta “quem é o homem?”, Deus responde não dizendo quem ele é, mas desdobrando-lhe uma história na qual, no fundo, a promessa de comunhão com Ele mesmo está à espera.
Portanto, a salvação deve ser tratada “na” história, e não salvação “da” história. Ninguém mais aceita que a salvação diga respeito apenas a uma parte do homem: apenas a salvação moral, individual, metafórica. A verdadeira salvação assume o homem inteiro, em sua historicidade e suas várias relações com o mundo contemporâneo. Qualquer outro conceito é considerado redutor; se proposto pela religião, é visto como fonte de um comportamento alienado e falsificado desde suas premissas. Sem dúvida, o homem de hoje resume sua ideia de salvação na libertação de qualquer e toda forma de alienação. Enfatizando cada vez mais sua necessidade e capacidade para uma crítica radical e desmistificação, ele descobre em uma medida cada vez maior como as alienações que viveu até agora, e aquelas nas quais está aprisionado, talvez em nome do progresso, são intrusivas e fatais.
Ouvidos gritos de alarme sobre a manipulação à qual o homem está sujeito pelos mil persuadores mais ou menos ocultos da multidão. Algumas correntes de pensamento chegaram até mesmo à conclusão de que “o homem, como sujeito, não existe”, sendo um mero produto de estruturas impessoais, ou seja, fruto e resultado das condições socioeconômicas incapazes de encontrar qualquer originalidade interior autêntica. Olhando isso mais de perto, parece que a alienação básica para o homem é a falta de um “modelo” imanente de uma vida humana bem-sucedida. O animal inferior o tem e não tem problemas existenciais; ele também não tem poder de transcendência. O homem é, portanto, infinitamente superior, mas talvez seja justamente isso que o faz infeliz.
Ao longo dos séculos, ele construiu inúmeros “modelos” de civilização, nunca acertando totalmente o alvo. Mesmo aqueles aparentemente maravilhosamente equilibrados em suas diversas partes revelaram fragilidades e envelhecimento. Hoje vemos esses modelos passarem sem arrependimento. Humanamente falando, não há outro recurso senão continuar inventando novos, perpetuando os trabalhos de Sísifo. Um modelo radicalmente seguro de salvação, livre de toda alienação, deveria salvar o homem inteiro e todos os homens, aqui e agora, de forma definitiva. Ele deveria surgir do coração do homem para que, atualizando-se, o homem possa dizer com total sinceridade que está se realizando. Para um racionalista, isso é utopia. Então, os “políticos”, focados na arte do possível, lutam contra isso, acusando os utopistas de obterem o efeito oposto, ou seja, dificultando até mesmo as menores realizações concretas que ao menos ajudariam a libertar o homem de algumas condições. Os utopistas respondem que aqueles que buscam tais realizações como suficientes enganam a humanidade. Dada a aceleração da história, eles veem, no curso de apenas uma geração, quão frágeis são certos tipos de civilização.
Cristo Crucificado, Real Salvação do Homem
É digno de nota o fato de que os crentes – buscando a salvação integral do homem segundo as exigências mencionadas acima – cada vez mais insistem que Jesus Crucificado é a verdadeira, atual e definitiva salvação. No final de 1972, em Bangkok, a conferência do Conselho Mundial de Igrejas foi precisamente sobre esse tema: “Salvação Hoje”. Foi caracterizada por uma profunda imersão na problemática do Terceiro Mundo e por uma dolorosa conscientização do sentido trágico da vida. Conduziu à sua declaração ainda um tanto hesitante de que o verdadeiro “sinal de Deus”, como presença atual de Seu poder, é a cruz!
Deus transforma as derrotas do homem em vitória. Quem crê no Deus proclamado por Jesus deve ter plena confiança no poder e vontade desse Deus para criar um mundo no qual a norma do amor exclua a violência e o ódio… O amor não destrói o homem que resiste a ele; uma pessoa que ama prefere aceitar sua própria destruição a destruir o outro… A cruz de Cristo é a garantia do reino de Deus…”(2)
“O Espírito Santo é o Deus cujo poder se tornou, em Cristo Crucificado, o poder criativo do amor e da entrega de si; por causa de Sua presença, a humanidade pode participar da história do reino, que é um movimento de esperança e plenitude, até que a salvação pertença ao nosso Deus.”(3)
A linha de pensamento de Moltmann é semelhante. “No Novo Testamento, a pergunta ‘quem é o homem?’ nos envia ao homem Jesus de Nazaré, cuja vida e morte são narradas nos evangelhos. Do que morre na cruz, abandonado por Deus e homem, dizem: ‘Eis o homem!’ Ao mesmo tempo, o Novo Testamento nos conta a resposta de Deus, proclamada pelo Crucificado, ‘Eu estarei com você.’ Pela fé, o conhecimento de Deus e de si mesmo se fundem no conhecimento de Cristo. O crucifixo é o espelho em que conhecemos Deus e a nós mesmos.”(4)
Essas orientações nos encorajam a avançar em nossa tarefa de mostrar como o homem moderno pode se beneficiar da sabedoria da cruz. Mas há dois perigos; para evitá-los, a teologia católica sempre foi muito cuidadosa para não ir longe demais. A influência da morte de Cristo, obediente à cruz, não deve ser um simples exemplo, um testemunho que exerce uma atração psicológica à imitação; aqui cairíamos em um empobrecimento “pelagiano” ou “liberal-protestante” da soteriologia.(5) Nem se deve dar a impressão de demonstrar racionalmente a validade de uma ‘antropologia da cruz’. A visão paulina da cruz como um escândalo e uma loucura não nos encoraja nem um pouco a ver no fenômeno humano a expectativa de um evento tão paradoxal.(6)
Contudo, a “descoberta intuitiva” da estrutura da salvação “centrada na cruz” constitui a síntese que anima a teologia da cruz. Nos diversos “eventos” e “palavras” que constituem a mensagem revelada, o teólogo encontra uma certa inteligibilidade convergente da cruz, e, nessa cruz, encontra uma nova inteligibilidade dos mesmos eventos e palavras.(7)
Jesus, o “Filho do Homem” Perfeito
Primeiro, apresentaremos alguns sistemas teológicos que se preocupam em centrar a sabedoria da cruz no homem, de acordo com a mudança antropológica que mencionamos. O líder mais importante nessa mudança é Karl Rahner. Típico de seu pensamento é a afirmação de que “o homem é o evento de uma comunicação livre, absoluta, imerecida e perdoadora de Deus.”(8) Se vemos o homem essencialmente aberto para as alturas, para Deus, então a Encarnação é como a total atualização das capacidades humanas. Não que possamos deduzir isso a partir dessa abertura ilimitada, mais ainda porque, existencialmente, nosso pecado mostra que isso não é dado a todos. Mas pode-se afirmar que Deus assumiu uma natureza humana que é existencialmente aberta e capaz de ser assumida.
Toda comunicação divina não apenas não tira a transcendência de Deus, mas “pelo contrário, é precisamente neste evento de comunicação absoluta de Deus que a divindade de Deus, como mistério sagrado, se torna uma realidade radical e imóvel para o homem. Tal imediaticidade de Deus em Sua auto-comunicação é precisamente a manifestação de Deus ‘como’ absoluto e mistério permanente.”(9)
Para Rahner – que mostra a importância da historicidade pré-pascal de Jesus e de seu autoconhecimento – Jesus vê a iminência do reino de Deus indissoluvelmente ligada à sua pessoa(10) em sua única e “filial” relação com o ‘Pai’ – podemos ver de uma maneira nova e irrevogável a proximidade de Deus a todos os homens.(11)
Jesus sabe que é o “salvador absoluto”. Sendo assim, a sabedoria da cruz nele tem diferentes níveis. O Jesus pré-pascal aceita livremente seu destino de morrer, pelo menos como o de um profeta, como confirmação de sua reivindicação esperando que seja confirmada por Deus, que pretende ser glorificado nele.(12)
Teologicamente falando, “tal é a morte de Jesus, que, em sua essência mais íntima, ela é superada na ressurreição; ele morre nisso… isso significa… a perenidade, salva, e a finalidade da vida única de Jesus, que adquiriu essa perenidade de sua vida precisamente através de sua morte livremente aceita em obediência.”(13) “Pela morte vem a definitividade completa da existência do homem livremente amadurecido.”(14)
O homem Jesus, assim aperfeiçoado por sua morte, é nossa garantia e a permanência histórica da promessa salvífica de Deus. “Somos salvos porque este homem, que é um de nós, é salvo por Deus e porque este Deus fez Sua vontade salvífica presente histórica e realmente, e irrevogavelmente, no mundo.”(15)
Uma teologia da morte pode unir de maneira mais estreita o evento da morte de Jesus com a estrutura básica da existência humana. A morte é a ação única que domina toda a vida, na qual o homem, como ser livre, dispõe totalmente de si mesmo…”(16)
Em última análise, a sabedoria da cruz é esta: que é a esperança absoluta de que o bem não será anulado, apesar das falhas aparentes. Quem fez uma boa decisão moral para a vida ou morte de forma radical e forte, de modo que não ganhe nada com isso, exceto a bondade aceita desta mesma decisão, esse homem já experimentou a eternidade.”(17)
Este é certamente o melhor esforço no campo católico de usar categorias da metafísica transcendente e da filosofia existencial para o entendimento e aprofundamento do evento Cristo. Não vamos aqui abordar as dificuldades levantadas por alguns teólogos, ou seja, “essas categorias parecem comprometer gravemente a gratuidade da Encarnação… e fazem com que a história da salvação seja o simples produto de um mecanismo metafísico.”(18) Pensamos que essas afirmações são muito formais e, portanto, não ajudam a discernir o conteúdo da decisão existencial radical sobre a qual basear a esperança absoluta e a experiência antecipada da eternidade.
Desejando seguir uma linha mais concreta e os teólogos contemporâneos, parece-nos que devemos considerar dois momentos, um mais circunscrito e o outro muito mais abrangente. Primeiro, é sabedoria da cruz simplesmente existir de forma mais plena para a libertação de nossos irmãos, considerando os meios muito pobres do simples amor interpessoal como algo muito poderoso. Mas definitivamente, é sabedoria da cruz existir com a convicção de que, mesmo quando as evidências apontam em outra direção, a própria vida pode sempre ter o significado de “liberação”, se não a recusarmos. Dessa “antropologia da cruz” pode-se extrair uma “teologia” da cruz no sentido estrito, ou seja, esse tipo de homem não é assim por um desejo arbitrário de Deus, mas precisamente porque dessa maneira e somente dessa maneira, ele é uma imagem do verdadeiro Deus.
Jesus, o “Liberador” Perfeito
Após voltar ao Jesus histórico, existe uma sequência lógica rigorosa na crescente preocupação com as circunstâncias históricas que são de importância primária para determinar a morte de Jesus. Em vez de um estudo abstrato, de imensa importância intrínseca, sobre a morte do “Filho de Deus”, do “sacrifício expiatório”, etc., a pesquisa foi gradualmente unindo-a com toda a vida pública de Jesus, que não apenas a precede, mas também a motiva historicamente. Assim, do ponto de vista histórico, teológico e contemporâneo, foi possível validar o contexto da “liberação”.
Estritamente falando, esse termo é amplamente sinônimo de “redenção”. “Na linguagem bíblica, antes de Cristo, o termo grego ‘redenção’ frequentemente perdeu toda referência à ideia de resgate e simplesmente significava libertação.”(19) Hoje, quando frequentemente temos que resgatar reféns para libertá-los, o elemento dramático desse acontecimento é plenamente sentido. Mas todos sabemos que “libertação” tornou-se uma senha de uma teologia desenvolvida na América Latina, onde as conotações sociopolíticas estão cada vez mais em evidência. Como já dissemos, de forma alguma rejeitamos essas orientações. Mas acreditamos que o poder de purificá-las de qualquer confusão indevida com ideologias puramente políticas está, de fato, na cruz.
É insuficiente verificar que Jesus, de fato, visava a libertação total do homem. Deve-se acrescentar que a maneira como Ele fez isso foi sábia e os resultados que obteve foram eficazes. Caso contrário, Jesus se tornaria uma espécie de frágil pretexto para continuar todo tipo de revolução, das guerrilhas até a revolução tecnológica. A posição histórica é plenamente reivindicada, por exemplo, por C. Duquoc, que habilidosamente se mantém afastado de qualquer desvio. “Jesus é um profeta que usa uma liberdade de linguagem impressionante. As autoridades religiosas estão preocupadas com seu comportamento e suas intenções; eles percebem heresia. Mas o povo antecipa a esperança de libertação política. A ocupação romana se livra de um sonhador que, apesar de si mesmo, poderia se tornar uma fonte de desordem. A recusa de Jesus em liderar uma aventura política lhe garante o apoio do povo. Sem meios de se defender, não disposto a confiar em meios além de sua pregação, Jesus é caluniado, condenado e crucificado. O destino histórico de Jesus é análogo ao de muitos homens justos que tentaram mudar a sociedade com meios diferentes da força. Sua morte, como a deles, desmascara o poder do mal enquanto revela uma esperança e inspira o mesmo esforço livre em outros homens. A morte de Jesus é plenamente humana e não sem significado; como muitos outros, Ele preferiu ‘justiça e direito’ à sua própria vida. Sua morte, então, não difere muito da do ‘homem justo’.”(20)
Não há dúvida de que Jesus realmente pretendia libertar a humanidade. Esta foi sua proclamação messiânica em Nazaré, quando fez uso do texto de Isaías (cfr. Lc. 4:18; Is. 61:1). Da mesma forma, Ele recorre a Isaías para assegurar a João Batista sobre seu papel messiânico (Mt. 11:4; Is. 35:5). Aqui, precisamente, temos a cruz. “Jesus não veio revelar o poder de Deus. Ele recusou criar uma expectativa que exigia um Salvador que salvaria o homem de construir sua própria história e ser senhor de seu próprio destino. Ele se recusou a criar um reino poderoso. A condição histórica do homem não deveria ser perturbada pelo ‘messianismo’ de Jesus. Não tendo pensado nessa revolução, Ele sofreu a condenação à morte. Entre a promessa e a expectativa, houve um mal-entendido que Jesus destruiu. Ele não agiu da maneira como as pessoas esperavam que um Redentor-Messias agisse. O ‘messianismo’ foi transformado por Sua morte… Ele falhou em nos dar o Reino por meio de uma intervenção mágica…” (21)
Já estamos diante de uma interpretação teológica que facilmente encontra seu lugar na experiência histórica de Jesus. Essa experiência foi unida a uma longa convivência com as ideias e formas contemporâneas, a intuição revolucionária (contemplando abertamente o rosto do Pai), que era uma nova maneira de passar para o reino.
O Pensamento de Walter Kasper
Walter Kasper parece ter seguido essa linha. Ele mostra que Jesus viveu em um contexto de pensamento fortemente marcado pelas tendências apocalípticas. Com base nessa mentalidade, “é impossível separar a vinda do reino de Deus dos sofrimentos escatológicos, a vinda do Messias do período messiânico de sofrimento. O anúncio da paixão, concebido como a tribulação dos tempos escatológicos, é um componente da pregação que tem como objetivo a vinda do reino de Deus… Da proclamação do reino, se ramifica, então, uma direção que flui, com poucas variações, diretamente para o mistério da Paixão.”(22)
O conflito de Jesus com seus adversários ocorre em um contexto escatológico. Jesus anunciou o fim da antiga era (“mundo” como era, como weltanschauung) e o início de uma nova. O conflito em torno de Sua própria pessoa está relacionado com aquele entre a velha e a nova era, desejada e aceita por Jesus até suas últimas consequências. A morte de Jesus na cruz não é apenas o resultado final da coragem que Ele demonstrou ao se manifestar aos homens, mas é o compêndio de sua mensagem.(23)
Portanto, se o caminho para o reino não é uma mudança cósmica, mas, acima de tudo, uma metanoia, a libertação fundamental realizada por Jesus é de uma noção errada do Reino. É uma espécie de desmitologização do Reino. P. Schoonenberg, entre outros, interpreta dessa maneira. Em outros campos, ele é um teólogo um tanto ambíguo. Para ele, a “kenosis” (aniquilação) falada em Filipenses 2:7 não se refere à Encarnação, mas a uma escolha feita pelo homem Jesus durante sua vida terrena, quando Ele recusou o papel de um messias político, porque sentiu o chamado para ser profeta no sentido de “servo” e, nesse sofrimento, percebeu um significado positivo. “Toda a vida de Jesus, acima de tudo sua paixão, está envolta em um contexto de tentação…; para sobrepor à vontade de Deus, que exigia fidelidade até o sofrimento, a vontade do homem que visava ao sucesso sem sofrimento…” (24)
Gradualmente, chegamos ao verdadeiro cerne da libertação que Jesus nos trouxe. Se a cruz é a porta para o reino, isso significa que aqueles que entram deixam para trás a ideia infantil de um reino de gozo terreno. Mas quem, livre dessa atitude, entra no Reino, o que “plenitude” ele encontra? Jesus deixou muito claro que o homem liberto é capaz de ir além da “lei”, encontrando, como Paulo diz depois, sua plenitude no amor (cfr. Mt. 5:17; Romanos 13:10). No pensamento judeu contemporâneo a Jesus, o absoluto consistia na Torá, e fora disso não se podia e não se deveria aventurar. Havia dois aspectos, um teológico e outro político, ambos muito abertos à crítica e, portanto, o alvo direto da mensagem de Jesus.
O Aspecto Político da Cruz
Historicamente falando, a cruz foi para Jesus o epílogo de sua ousadia ao abrir o poder divino para todos os homens. Cada homem tem acesso à divindade como uma criança ao seu pai. Cada homem é superior a qualquer tipo de estrutura e pode e deve curvar essa estrutura para colocá-la a serviço de seus semelhantes, de fato, para colocar-se a serviço dos outros.
J. Ratzinger expressa bem isso quando diz que “a fonte da qual a fé ‘cristã’ surgiu originalmente é a cruz… A crucificação de Jesus é sua realeza; precisamente como crucificado, este Jesus se torna Cristo e Rei…”(25) Enquanto Pilatos pensava em liquidar Jesus ao lhe dar o título de “rei”, ele paradoxalmente transformou a cruz em um estandarte para a luta pela libertação da humanidade. Não foi apenas no judaísmo daqueles tempos, mas ainda mais dentro do sistema imperial dos romanos, que o conflito eclodiu de forma decisiva. Cristo, o Filho de Deus crucificado, entrou em conflito com César, cujo culto imperial, inspirado pela ideologia tingida de orientalismo de um rei absoluto, também seria Filho de Deus. “O mito já desmitologizado e o mito que restou se encontraram abertamente. A pretensão absoluta do deus-imperador romano não poderia, obviamente, permitir que se aproximasse dele a teologia real e imperial que cresceu em força na reivindicação de Jesus de ser Filho de Deus. Daí, a necessidade do nascimento do ‘martyria’ (testemunho), ‘martyrium’, que eclodiu diante da provocação contra a autodeificação do poder político.”(26)
Uma Política para Não Ser Escravizado Pela Política
O próprio fato de que o Cristianismo se mostrou genuíno, em seus fundamentos, até mesmo em um contexto diferente do original, mostra claramente como seu aspecto político, embora autêntico, não se limita aos eventos vividos pelo Jesus pré-pascal, mesmo que esses iluminem muito bem essa questão. Isso significa que, ao contrário de todas as posições “reducionistas” tomadas por alguns autores recentes, o fato certo é que Jesus nunca se deixou prender por nenhum “partido” de sua época, o que se torna cada vez mais evidente. Galot, em sua excelente síntese, conclui que “refutar qualquer apego político de maneira alguma significa um menor compromisso com a obra de libertação. Isso mostra um compromisso mais profundo e absoluto. Jesus não quer libertar um tipo particular de homem especificado por sua classe social ou nação, mas o homem como tal, o homem em sua totalidade e seu pleno valor humano.”(27) Congar também, que afirma que a palavra e a ação de Jesus, ao refutar o messianismo temporal, tiveram um impacto político, explica que isso deve ser entendido no sentido de uma aplicação crítica em relação a todos os valores temporais que pretendem dominar de maneira absoluta, e enfatiza que Jesus não assumiu um programa, nem um movimento revolucionário político, nem mesmo uma atividade de reforma social como tal.(28)
A Teologia Política de J. B. Metz
J. B. Metz, em particular, desenvolveu sua teologia política ao longo dessas linhas. Desde 1971, ele começou a falar de um futuro para o mundo que deveria surgir da “memória da Paixão”: “O Cristianismo… luta para manter viva a memória do Senhor Crucificado, esta ‘memoria passionis’ específica, como uma memória perigosa de liberdade dentro dos sistemas sociais de nossa civilização tecnológica.”(29) “A memória cristã da Paixão, em seu conteúdo teológico, é uma lembrança antecipatória. Nela, está a expectativa de um futuro determinado para a humanidade, como um futuro dos sofredores, dos sem esperança, dos oprimidos, dos feridos e inúteis desta terra. Assim, a memória cristã da paixão não abandona simplesmente e indiretamente a vida política ao jogo de interesses sociais e forças que também pressupõem um conflito que sempre favorece os poderosos e não os amigos, além de trazer sempre e apenas o valor desse ‘quantum’ de humanidade necessário para assegurar os próprios interesses. Uma nova imagem moral é introduzida pela memória da paixão na vida política, uma nova maneira de imaginar os sofrimentos dos outros, a partir da qual deve amadurecer uma inclinação avassaladora e desinteressada pelos fracos e pelos não representados. Assim, a ‘memoria passionis’ cristã pode se tornar o fermento dessa nova vida política que buscamos para o nosso futuro como homens.”(30)
O Aspecto Crítico da Sabedoria da Cruz
O aspecto “crítico” da sabedoria da cruz deve então ser destacado e apreciado. “O cristão, sob a cruz, enquanto engajado na luta pela libertação, não apenas terá um estilo original, mas sempre se recusará a ser totalmente identificado com as reivindicações e interesses da sociedade, e saberá manter sua distância de qualquer sistema… O Cristianismo nunca deve se resignar a se tornar uma religião da sociedade, uma ideologia… Cristãos, fiéis à cruz, sempre serão estrangeiros e migrantes, mesmo em uma sociedade sem classes.”(31)
Dito isso, também devemos estar atentos para não interpretar a cruz de forma literal e tímida. “A aceitação da cruz não autoriza qualquer tipo de opressão, mas torna-se um estandarte da luta cristã pela restauração da justiça… o conflito de classes pode revelar profundas exigências evangélicas: a vontade de lutar pela justiça, a escolha dos excluídos, a necessidade de aliviar as injustas cruzes que pesam sobre nossos irmãos… O grande princípio cristão não é o conflito de classes nem a colaboração interclasses. É o amor ao próximo, incluindo o inimigo, e o compromisso com a justiça porque o amor não faz injustiça. Em uma sociedade de classes discriminatórias, a luta de classes (pelas classes oprimidas) para superar discriminações e alcançar uma sociedade sem classes não é contrária ao Cristianismo. Devemos manter-nos firmes, pois, ao mistificar a cruz, podemos também mistificar a luta…” (32)
A Sabedoria da Cruz e o Amanhã
A sabedoria da cruz “hoje cuida do amanhã que ainda está por vir. Enquanto os construtores constroem o palácio, ela cuida secretamente das pedras rejeitadas pelos construtores. Enquanto os legisladores formulam leis para a nova sociedade, a sabedoria da cruz está pronta para estar fora da lei, se o amor pela humanidade assim exigir. Quando, como deseja, as pessoas marginalizadas conseguirem conquistar poder, ela imediatamente estará com aqueles que permaneceram fora. Não é assim, talvez, o modo como a fé cuida do futuro? Reconhecendo a glória de Deus no Crucificado, ela condena a priori toda a glória deste mundo, impelindo a esperança do homem para além de qualquer possível realização, não é?” (33)
Os diversos pontos de vista dos quais apresentamos alguns trechos mostram claramente que não devemos nos deixar aprisionar dentro de uma ideologia terrena. A cruz nos remete sempre à transcendência de Deus, e Ele é o único Libertador cujos projetos são completamente superiores aos nossos. Também não devemos nos aprisionar em uma espécie de angelismo escatológico que confunde o futuro exclusivamente com o que acontece após a morte. A transcendência cristã vinda da cruz tem um nome bem conhecido: o amor. É a vitória do amante sobre a justiça, e é a exigência de que devemos chamar de “justo” apenas uma humanidade baseada no amor. Por isso, a sabedoria da cruz nunca pode ser codificada ou institucionalizada. “Esse superamento da justiça estrita… vem de Cristo mesmo, que trouxe a libertação ao homem não por causa de uma simples justiça divina, mas por aquele amor divino que perdoa os pecados fazendo sua benevolência triunfar sobre a injustiça do pecado. Longe de se enclausurar dentro das fronteiras da justiça, o amor é ilimitado e seu objetivo é atrair o homem para um amor sem limites. Portanto, somente a caridade pode inspirar um projeto de reforma social que corresponda às orientações evangélicas… Somente a caridade pode dar à justiça social seu verdadeiro significado, ou seja, o compartilhamento fraterno e não uma mera luta entre interesses econômicos que tentam harmonizar, nem um simples compromisso entre forças sociais de acordo com o poder de cada uma. O verdadeiro e legítimo significado da reação contra a injustiça só pode vir da caridade; isto é, a busca por uma sociedade mais igual, porque mais animada pelo amor. Sem caridade, essa reação corre o risco de se tornar uma reivindicação egoísta e uma protesto rancoroso. Algumas situações dolorosas só podem ser remediadas pela caridade que nenhum sistema legal social consegue evitar ou eliminar.”(34)
A Última Palavra e o Amor Crucificado
Agora chegamos à última dimensão “antropológica” da sabedoria da cruz. Até agora, vimos que ela anima um projeto positivo, corajoso e seguro de seu sucesso escatológico. Vimos como ela é um estímulo à criatividade, pois está intrinsecamente orientada ao contínuo superamento das limitações históricas. Mas, sem dúvida, o elemento constitutivo da sabedoria da cruz é também a paciência, a esperança contra a esperança, o desafio da existência, mesmo quando parece que o fracasso intra-histórico é certo.
Os teólogos hoje dão espaço à sabedoria da cruz na pesquisa e no entendimento do significado do que parece sem sentido. Isso parece ser a linha de L. Boff. “Toda a vida de Cristo foi autoentrega, um ser-para-os-outros, a tentativa e a realização em sua existência do superamento de todos os conflitos. Vivendo o significado original do homem, como Deus quis quando o fez à Sua imagem e semelhança, julgando e falando sempre a partir dele, Jesus revelou uma vida de extraordinária e original autenticidade. Com a proclamação do reino de Deus, Ele quis dar um significado último e absoluto à totalidade da realidade… Apesar do desastre e fracasso total, Ele não desesperou, mas confiou e acreditou até o fim que Deus, apesar de tudo, o aceitaria. O absurdo tinha para Ele um sentido secreto e último. O significado universal da vida e morte de Cristo está, então, no fato de que Ele suportou até o fim o conflito básico da existência humana; tentar realizar o significado absoluto deste mundo diante de Deus, apesar do ódio, mal-entendidos, traição e condenação à morte. O mal, para Jesus, não estava lá para ser explicado, mas para ser assumido e superado pelo amor. Esse comportamento de Jesus abriu novas possibilidades na existência humana, uma vida de fé em um sentido absoluto, mesmo diante do absurdo… A ressurreição revelará em sua totalidade que acreditar e perseverar no absurdo e no não-sentido não é sem sentido.”(35)
Para E. Schillebeeckx também, “a confiança radical em Deus, apesar de todas as circunstâncias empírico-históricas, foi o cerne da mensagem e do comportamento consequente da vida de Jesus, que, quando tudo isso se cumpriu, ainda assim fala de ‘serviço inútil’” (Lc. 17:7ss).(36)
Jesus tinha, acima de tudo, que dar sentido ao rejeição de sua mensagem, que Ele percebeu estar chegando durante Sua pregação. Tudo aponta para o fato de que Ele percebeu a realização de Sua mensagem — da maneira que agradaria a Seu Pai — não tanto “apesar” de Sua morte, mas sim “através” de Sua morte. Na ceia, Jesus sentiu e compreendeu Sua morte como o serviço final e extremo dado à causa de Deus, pois era humana.
O “para você” no sentido da total pré-existência de Jesus foi a intenção histórica de toda a Sua conduta, e isso foi realizado até a morte. “Toda a vida de Jesus é a hermenêutica de Sua morte. Dentro disso há um profundo sentido salvífico, que mais tarde poderia ser proclamado pela fé de várias maneiras.”(37)
Nesta fé-absoluta-espéra estão incluídos todos os sofrimentos humanos da história, além de todas as racionalizações mais ou menos teológicas. Toda “história humana é ambígua, com alguns vislumbres de luz e amplas zonas de escuridão impenetrável, um domínio de saber e não-saber. A coexistência de sentido e não-sentido nesta história, isto é, a própria história, não é completamente suscetível ao raciocínio… O sofrimento não reconciliado e inocente, em resumo, a história da paixão da humanidade, precisamente em sua zona sombria, incapaz de ser situada racionalmente ou teoricamente… acompanha nossa história como um permanente ‘epifenômeno’ em nossa liberdade situada. Tanto a filosofia quanto a teologia estão impotentes… Há sofrimento inocente e absurdo demais para ser racionalizado eticamente, hermeneuticamente ou ontologicamente. E a história testemunha a impotência do homem para realizar uma sociedade humana totalmente integrada sem sofrimento… Acreditar em um significado universal da história é possível apenas em uma prática que busca superar o mal e o sofrimento em virtude de uma promessa religiosa…”
“A verdadeira essência da mensagem de Jesus está na soberania de Deus atenta à humanidade. Apesar do ‘fracasso histórico’ dessa mensagem, Jesus deu testemunho de Sua certeza indestrutível da salvação vinda de Deus, uma certeza baseada em uma experiência excepcional de ‘Abba’ que a vida humana é definitivamente significativa… porque o Pai é maior que todo sofrimento…” (38)
VI. SABEDORIA DA CRUZ E O VERDADEIRO ROSTO DE DEUS
Como foi repetido mais de uma vez no capítulo anterior, afirmar a questão da soteriologia envolve não apenas a antropologia, mas também a teologia no sentido estrito, isto é, o discurso sobre Deus. Evidentemente, uma certa difusão do ateísmo é parcialmente causada por uma ideia distorcida de Deus, e essa distorção tem a ver precisamente com a maneira como as pessoas pensam que Deus concebe a salvação (somente fora da história ou também dentro dela?) e o caminho para alcançá-la (sacrificando o homem ou aperfeiçoando-o?). Daí a importância pastoral da possibilidade de termos uma ideia mais clara do rosto de Deus, a partir da sabedoria da cruz, como temos explicado.
Teologia da Glória e Teologia da Cruz
Para evitar uma base muito frágil, adotamos a explicação da questão dada por G. Moioli em sua Cristologia mencionada acima. Ele trata “estritamente da relação, a ser formulada em termos rigorosos, entre o discurso sobre Jesus Cristo e o discurso sobre Deus, na teologia.” A pressão do mundo protestante, especialmente, insiste na direção “não apenas de um desafio da pretensão de construir um discurso sobre Deus, de acordo com a fé, que prescinda ou não se baseie no escândalo da cruz, mas mais radicalmente no sentido de um maior ou menor esforço para juntar teologia e cristologia.” Para Lutero, a “theologia crucis” é a única legítima; Deus se revela suprema e “sub contrario”, isto é, no Crucificado, para proclamar a absoluta inadequação da razão humana para alcançar Seu mistério. Compreendem-se dois suportes básicos da “pecaminosidade” fundamental do homem histórico e a total liberdade da graça divina. Barth renovou essa posição. Para ele, “a Palavra reveladora de Deus é Jesus Cristo e, portanto, Cristo é uma espécie de ‘implicação’ universal. Com uma leve exageração, sua teologia foi chamada de ‘monocristiana’ ou ‘pan-cristiana’.” Ele não diz que “a afirmação de Deus-em-si mesmo é um problema cuja objetividade é possível somente em Cristo; mas que Deus-em-Cristo é uma espécie de evidência primária, um ‘primum logicum’ para o crente… a cristologia, disse ele, é o critério da teologia.”
O epílogo dessa posição é encontrado em Bonhoeffer, que, no Cristo sofredor, vê Deus sofrendo pelo mundo. A fé é deixar-se arrastar pelo caminho com Cristo, ser envolvido nas sofridas messiânicas de Deus em Cristo. “O Deus-feito-presente tem na essência de Sua presença assumido a estrutura do Crucificado; mas o Crucificado não é, por assim dizer, um evento que aconteceu com Deus, mas a própria lei escolhida por Deus para regular Sua presença no mundo, uma presença dentro de uma ausência. O Crucificado que não pode ser a essência de Deus como existência, pode ser Sua essência como presença, isto é, na medida em que está relacionado ao mundo.” (5)
O “Deus Crucificado” de Moltmann
Certamente, o que mais se aprofundou nessa linha foi Moltmann, em sua obra “O Deus Crucificado”. Embora teólogo protestante, ele estabelece um apreciável diálogo com a teologia católica, especialmente a de língua alemã. Para ele, “a fé cristã depende do conhecimento do Crucificado, isto é, do conhecimento de Deus ‘em’ Cristo crucificado.” (9) Infelizmente, não podemos analisar a obra inteira e estamos cientes de que é difícil apreciar uma seção isolada. De fato, a primeira parte da obra é como uma “escatologia cristológica”, isto é, pergunta como o futuro reino de Deus está presente na realidade do presente. Perguntando “por que” Cristo foi ressuscitado dos mortos, encontramos a cruz. “Uma ressurreição sem a cruz soaria como um milagre e nada mais, uma metamorfose de glorificação, uma antecipação abstrata do futuro. A ressurreição do crucificado é expectativa e esperança para os sem esperança… o início do fim da história centrado nos sofrimentos da história, antecipação do futuro de Deus para o passado dos mortos e para os sem esperança”. (10)
Na segunda parte de sua obra, Moltmann, desde o início, tira várias conclusões. Vamos examinar brevemente o capítulo em que ele tira consequências para o conceito de Deus. O título do capítulo é, significativamente, o mesmo de toda a obra, então, o lugar central que ocupa é claro. A partir do debate sobre “a morte de Deus”, o autor conclui que “agora, o problema cristológico de Jesus, no último caso, implica o de Deus. O que Deus motiva a fé cristã: o Crucificado ou um dos deuses da religião, da raça e da classe?” (11) O teísmo metafísico se torna alvo: o movimento imóvel não dá substância ao ser, mas a cruz de Cristo é a redenção do ser e a fundação da nova criação.
Além de criticar o teísmo, a teologia da cruz é também crítica do ateísmo. Como a metafísica rejeitada, ela parte do pressuposto de que o mundo é a imagem da divindade e, obviamente, nega que qualquer tipo de Deus possa ser deduzido de um mundo injusto e sofredor. Pelo contrário, o ateísmo é precisamente o rejeitar dessas injustiças que esmagam o homem. Mas a teologia da cruz “absorve em si a ‘revolta metafísica’, porque reconhece na cruz de Cristo uma revolta operando no campo da metafísica, ou melhor ainda, uma revolta operando em Deus mesmo; é, de fato, Deus quem ama e sofre em Seu amor a morte de Cristo.” (12)
Então, Deus sofre? Uma imagem de um Deus impassível é descartada resolutamente; o Deus indiferente e “apatético”, familiar aos filósofos gregos, que ecoa também no pensamento cristão. No contexto metafísico aristotélico-tomista, parece absurdo atribuir sofrimento a Deus. Mas Moltmann admite a possibilidade de mutação e, portanto, de sofrimento em Deus mesmo. Devemos excluir qualquer tipo de sofrimento em Deus que implique falta de ser, mas não essa capacidade de sofrimento que nasce do amor. A imutabilidade de Deus não deve ser entendida como absoluta, mas apenas relativa; ela não exclui a capacidade de sofrimento ativo, o sofrimento do amor.
Moltmann ousadamente sustenta que a cruz de Cristo revela Deus precisamente como Trindade. “No evento da cruz, as pessoas divinas são constituídas em seu relacionamento recíproco; no evento da cruz vem a ‘história de Deus’. Na cruz, o Pai e o Filho são constituídos como tal, na medida em que são distintos e separados no modo mais profundo de abandono: o Pai como aquele que abandona o Filho ao sofrimento e à morte, e o Filho como aquele que é abandonado ao sofrimento e à morte. Ao mesmo tempo, estão unidos mais intimamente na ‘entrega’, o Pai como aquele que entrega Seu Filho à agonia e ao abandono e sofre com isso, e o Filho como aquele entregue que se entrega voluntariamente à agonia e à morte. A partir desse evento entre o Pai e o Filho na cruz, emana o Espírito que justifica, revela para o futuro e cria vida.” (13)
Parece que, às vezes, Moltmann tende a “conceber Deus crucificado por uma razão teórica, a própria exigência do amor de se expressar ao compartilhar o sofrimento da pessoa amada. Mas, em outros momentos, parece que ele chega a esse conceito de um Deus crucificado por razões exegéticas. Retornando à história da salvação, ele mostra que o sofrimento e a cruz são traços necessários da existência de Deus desde o momento em que Ele decidiu estabelecer uma aliança com a humanidade. A partir de então, Deus também sofrerá as injúrias e os sofrimentos por seu povo que a desobediência humana lhe traz. O que o Antigo Testamento chama de ira de Deus não é uma categoria antropomórfica de transposição de afetos humanos inferiores em Deus, mas sim o pathos divino. Sua ira é amor ferido e, portanto, uma maneira de reagir ao homem. O amor é a fonte e o fundamento profundo da possibilidade para a ‘ira divina’.” (15)
O Deus Crucificado no Pensamento Católico
Não podemos deixar de mencionar outros expositores interessantes da teologia protestante. Por exemplo, o japonês Kitamori, que já em 1946 escreveu seu ensaio sobre “A Dor de Deus”. Ele pensa em um Deus que sofre ao ter que perdoar e em quem a tremenda tensão entre amor e raiva forma a dor. Além da teologia bíblica, o autor se refere à experiência básica japonesa de ‘tsurasa’, ou seja, a dor em que, por amor a alguém amado, se oferece o sacrifício de algo que se tem de mais querido, a própria vida ou a vida de um filho amado. (16)
Entre os teólogos católicos, J. Galot adota uma posição equilibrada em “O Mistério do Sofrimento de Deus”, da qual apresentamos um resumo aqui. (17) “A afirmação ‘Deus sofreu’ é muito antiga. Para os cristãos de Roma, São Inácio de Antioquia escreve: ‘Deixe-me ser imitador da paixão do meu Deus.'” (18) A teologia patrística já havia adotado a “comunicação de idiomas” pela qual o que foi assumido por sua natureza humana era atribuído à pessoa divina do Verbo. A partir do século V, “a atribuição de sofrimento ao Verbo foi formulada na declaração mais extraordinária e precisa: ‘Um da Trindade sofreu.'” (19) Mas até a teologia católica recente se recusou a ir além de uma simples apropriação. “Galtier considera como um ‘sonho mórbido’ a ideia de um Cristo acessível até mesmo em seu ser divino ao que constitui a fraqueza e miséria dos homens.” (20) Contudo, exegeses mais recentes, entretanto, encontraram formas de superar esse obstáculo, referindo-se ao hino paulino de Filipenses 2, que parece levar “diante da nudez da cruz, à mais fundamental despocagem da Encarnação”. (21) Há um sacrifício interior, uma certa dor moral que toca a pessoa do Filho. A Paixão seria o seu ápice. “Na vida humana de Jesus, tudo revela Deus, mas o sofrimento é a experiência humana mais intensa, e, portanto, a mais capaz de mostrar o que Deus é…” (22) “O poder divino é o amor. Por isso, esse poder é capaz de mergulhar na mais profunda dor.” (23) Para concluir sua pesquisa, Galot afirma que “o sofrimento de Cristo não é divino… Mas ele tem uma repercussão sobre Sua Pessoa. É uma manifestação de kenosis… tocando o Verbo na medida em que Ele é Filho…” (24)
A segunda parte da obra trata de “a participação do Pai na encarnação e paixão.” De acordo com João, somente Jesus nos traz a verdade última sobre o Pai. “Cristo é, em si, o critério primário de toda a doutrina sobre Deus.” (25) Mas Jesus revela que o Pai é aquele que envia o Filho como vítima. “O primeiro sacrifício não foi a morte do Filho pelas mãos dos servos, mas a do Pai, que aparece como o supremo responsável por todo o triste acontecimento.” (26) Pode ser possível avançar ainda mais e falar de uma “compaixão” do Pai diante da morte do Filho. Místicos e artistas chegaram a essa intuição antes dos teólogos. (27)
Para apoiar a teologia, Galot trata em uma terceira parte do “problema do sofrimento de Deus na ofensa causada pelo pecado” e a quarta com “sofrimento e amor redentor”. “A análise da ofensa exige uma distinção básica entre o ser divino, que não é diminuído nem ferido, e o amor divino que é ferido pela atitude hostil do pecador… O sofrimento de Deus na Paixão não é, estritamente falando, sofrimento do ser divino, mas sofrimento do amor divino, e mais exatamente, do amor que as pessoas divinas dão à humanidade.” (28) Com a distinção entre ser necessário e amor gratuito (29), a inteligibilidade do sofrimento em Deus é preservada. “Em si, não há nada no sofrimento que contradiga o amor. Sua natureza não é tal a ponto de diminuir a perfeição moral.” (30) As ideias predominantes desde a época de Anselmo são, assim, desmontadas. “Deus não impõe sofrimento sobre o homem pecador, mas o homem impõe sofrimento sobre Deus.” (31) Nesse caso, o sofrimento não é um mal, mas a aceitação do sofrimento para dar à humanidade o amor sincero “traz a união do sofrimento e da alegria no fundo do coração, e transforma o sofrimento em profunda alegria.” (32)
A teodiceia está seguindo novos caminhos. “Na economia da providência, o sofrimento não é um peso para esmagar os outros, mesmo para um fim superior. É um peso que o Pai assume primordialmente em si mesmo… Se o Pai sofre, esse sofrimento adquire um novo rosto…” (33) “O verdadeiro Deus só pode ser aquele que, em Seu amor, sofre por e com o homem… Só essa concepção de Deus, capaz de sofrer e que sofre, prova o que é dito de Deus nas escrituras e manifesta o rosto de Deus que é amor.” (34)
A Glória da Cruz segundo Von Balthasar
Talvez melhor que qualquer outro autor trabalhando nessa linha seja Hans Urs Von Balthasar, de cuja obra, “Teologia, a Nova Aliança”, extraímos alguns pensamentos, o sétimo volume de sua monumental obra, “Glória, Uma Estética Teológica”. (38) No início dessa obra, ele lembra as palavras de Romano Guardini: “De uma maneira apropriada a Ele somente, Deus realmente experimenta um ‘destino’ neste mundo. E Ele é tal que pode experimentá-lo. E esse poder de experimentá-lo é a glória última, idêntica àquela dada pelo seu ser ‘amor’. A cruz é o símbolo por excelência dessa realidade. Quem brincar com ela fecha o mundo em uma incompreensibilidade total.”
O paradoxo é apenas aparente. Já no Antigo Testamento, “glória” era entendida como “Kabod”, isto é, peso, solenidade. Com Barth, Von Balthasar entende que a “beleza” de Deus não é derivada de um conceito metafísico geral, mas da auto-revelação solene que Ele escolhe. “Deus não é Deus porque Ele é belo, mas Ele é belo porque Ele é Deus.” (39) O trabalho consiste em três partes. A primeira (Verbum caro factum) afirma o “peso” pelo qual Deus se apresenta. Quando Jesus aparece, a futura cruz já está à vista. “A imagem do Messias que aparece deve ser permeada pela daquele servo sofredor de Deus (para um judeu, essa imagem poderia ser reconciliada com a primeira).” (40) O batismo é interpretado de forma soteriológica (41); a Paixão é prevista na narrativa das tentações. (42) A pregação de Jesus também põe em movimento imediato as forças adversas que levarão Jesus à cruz (43), tanto que, na realidade, “o centro da Palavra será a não-palavra”, a morte, “impacto impossível do peso absoluto de Deus sobre o outro, que não tem nada em comum com Deus… um ponto sem forma.” (44)
Na extrema gritaria da agonia crucificada, “a palavra atinge seu ápice e, portanto, já não é articulada, rasga o último suspiro de seu diafragma”; seu coração está simbolicamente fora do véu entre Deus e o homem; sangue e água jorram, Deus se derrama; Ele se derrama fora de Si aquele Pacto que pressupõe um par. O mediador é ultrapassado onde agora há apenas um. Onde a palavra morre, a verdadeira nova soa, o coração partido de Deus. (45)
A reflexão central encontra-se no capítulo “O Peso da Cruz”, que tenta interpretar a morte de Jesus como Kabod. Aqui, a sabedoria da cruz entra no próprio mistério de Deus. Evitando exageros sociológicos de Bulgakov, é possível entender que a kenosis “se baseia no ‘altruísmo’ das pessoas divinas como relações puras na vida intra-divina de amor. Esse altruísmo é uma primeira forma de kenosis que consiste na criação (especialmente do homem como livre), pois o criador entrega, de certa forma, uma parte de sua liberdade nas mãos de sua criatura. Mas, no último caso, Ele só pode ser tão audacioso devido a uma visão anterior e à consideração da segunda e mais verdadeira kenosis da cruz, na qual Ele reúne e ultrapassa as consequências extremas da liberdade criacional. Assim, a cruz de Cristo está inscrita na criação do mundo desde a sua fundação, o Cordeiro de Deus é imolado desde o início do mundo (cf. Apocalipse 13:8)…” (46)
É necessário, no entanto, para manter um equilíbrio correto, dizer que “se é verdade que a ‘cruz’… revela algo da lei imanente da Trindade, não é de maneira alguma possível derivar dessa lei interna uma necessidade… No entanto, em Jesus Cristo, o abaixamento e o auto-esvaziamento não contradizem a essência de Deus, mas de uma maneira inesperada são até da mesma medida.” (47)
A segunda parte do trabalho (Vidimus gloriam eius) examina o significado da “glória” no Novo Testamento. Mas, inevitavelmente, ela retorna à cruz. “A glória é a auto-afirmação divina no outro que não é o próprio… Deus é incompreensível e quanto mais Ele se mostra à nossa capacidade de saber, mais sua incompreensibilidade aumenta… Tudo isso, para uma teologia negativa em geral, não tem valor como teorema, exceto para a mais concreta de todas as teologias, que Paulo chamou de ‘a loucura de Deus’ na cruz de Cristo (1 Cor. 1:25).” (48)
“No não-existir recíproco do Pai e do Filho, como revelado pela obediência e pela cruz, a última palavra é de Deus, que nenhuma razão ou práxis pode alcançar… Esta palavra é a expressão inacessível e auto-doação de Deus. O gesto extremo do amor trinitário no dar está além das imagens hebraicas, samaritanas e pagãs de Deus, e para elas se torna o ‘telos’: ‘verão aquele a quem traspassaram’. Daqui em diante não haverá mais nada a ser visto por parte de Deus. Esta será e permanecerá sua revelação completa, ao mesmo tempo que sua mais completa ocultação…” (49)
Von Balthasar dedica então uma terceira seção (In laudem gloriae) ao Espírito Santo como ‘glorificação’ de Deus no mundo. O coração dessa parte é o dever de encontrar Deus em nossos irmãos pelos quais Cristo morreu. Em conformidade com Efésios 2:14-15, “O horizontalismo do amor ao próximo que é aberto e universal (por exemplo, eclesialmente ilimitado) desce da linha vertical de sua origem (na cruz) e vem a existir na consideração escatológica comum voltada, no mesmo Espírito, para Deus e Pai, que é a fonte, em Seu Filho na cruz, de todo amor e toda unidade… Jesus estendido na cruz em direção aos pecadores é a base da unidade entre o amor de Deus e o amor aos nossos irmãos. É a fundação divina que, em Cristo, confere a cada ‘próximo’, mesmo o ‘mais distante’, o valor de ser pessoalmente amado por Deus e de ser próximo de Deus Ele mesmo. E isso é assim antes de qualquer questão sobre o que chamamos de igreja organizada e missionária…” (50)
A glória da cruz, então, abrange também o conceito de igreja, que é considerada como uma situação ‘provisória’ a caminho da parusia. “Certamente a Igreja vive… desde a Páscoa… mas sempre a caminho… e na direção da cruz, uma cruz que nunca deixamos para trás como uma ‘realidade factual’ agora passada, mas para a qual toda a história da humanidade viaja, como para seu próprio ‘eschaton’ (Mt. 24:3) ‘verão aquele a quem traspassaram’ (Apoc. 1:7).” (51) “A Igreja é fundada, enviada, comissionada desde o dia da Páscoa. Mas ela mantém a Sexta-feira Santa em seu coração, onde a forma humana e a visibilidade de Deus são esvaziadas, apagadas, enterradas. Uma Igreja que carrega esse mistério em seu coração pode ser apenas uma tenda para um povo peregrino, que está continuamente sendo desmontada e dobrada para ser carregada em outro lugar…” (52)
De fato, esta é a sabedoria da cruz, revolução de todas as nossas concepções, que deve nos servir como base sólida e corajosa para toda a prática pastoral e planejamento da nossa era.
VII. A SABEDORIA DA CRUZ HOJE
Apresentações Contemporâneas da Espiritualidade da Cruz
Em um artigo sobre Ministério Pastoral publicado em 1975, apontamos para uma “revitalização da espiritualidade da paixão”. Hoje, de fato, a discussão sobre espiritualidade inclui a verificação global da fé através de uma experiência autêntica desta em circunstâncias reais. Nenhuma outra experiência traz a garantia da autenticidade no Espírito tanto quanto a da cruz. No Novo Testamento, já vemos o lugar central da cruz na mensagem libertadora do Messias. Quanto mais a cruz é abraçada no serviço ao nosso próximo, mais o poder satânico é superado e eliminado. No entanto, hoje a espiritualidade da cruz precisa de reformulação, pois foi danificada por um tipo de individualismo perfeccionista e “dolorista”, e por um dogmatismo tingido de legalismo penal. Podemos, ao invés disso, expressar uma sabedoria da cruz que proclama a vitória definitiva de Deus e Pai de Jesus Cristo sobre o mundo. Já em 1974, [Parola e vita] argumentávamos que “é somente o Deus crucificado que verdadeiramente salva”. A partir da necessidade de que a salvação abrace o homem em sua totalidade, sua historicidade e seu relacionamento com o mundo de hoje, mostramos que a cruz, paradoxalmente, é salvadora precisamente porque é direcionada ao que é humanamente mais precioso e aceitável: o amor; e no poder do Espírito, inicia um novo e definitivo mundo que retorna ao Pai com o sacrifício frutífero da existência, eternamente elevada na cruz.
Uma excelente coleção de estudos está em “A Cruz, Esperança dos Cristãos”. Nela, entre outros, D. Barsotti diz: “A cruz nunca pode ser um mero símbolo de sofrimento, mas é antes sinal e sacramento de um mistério divino”, que é o próprio mistério da glória divina, do qual somos chamados a ter um conhecimento “apofático”, ou seja, silencioso e contemplativo, negativo e obscuro. “No mistério da cruz, Deus une os extremos, e nesta unidade realiza a salvação…” No mesmo volume, o Pe. Rossano observa que, nos escritos do Novo Testamento, o kerygma da cruz aparece em várias fases de articulação, a primeira mais arcaica, simples e elementar, a posterior, mais teologicamente rica, dinâmica e elaborada. Não há fim para a reflexão, e a contemplação deve estar ciente de que se depara com um mistério. No entanto, a experiência da Igreja é capaz de descobrir e encontrar até o fim do mundo sempre novos elementos de conteúdo, que recolhem e explicam valores e aspectos do kerygma da cruz.
Observe o realmente difícil desafio que enfrenta o trabalhador pastoral: ele deve, antes de tudo, tomar o fato do Novo Testamento e, depois, confrontar sua relação (decisiva hoje) com os homens, o ‘propter nos’ eternamente presente na mensagem evangélica. Como? D. Amalfitano expressa um pensamento bastante comum quando afirma que “a nossa consciência cristã tomou emprestada extensivamente uma teoria que se tornou cada vez mais rude e grosseira: a teoria da expiação… Se paramos em um Deus de exato e equilibrado acerto de contas entre dar e ter, ainda estamos no paganismo, com um Pai sadista, um Deus de memória freudiana que faz sua mensagem carecer de credibilidade… A cruz não é apenas uma roda dentada de um direito ferido e reparado, mas, acima de tudo, a radicalidade do amor totalmente dado; esse é o dom e a coerência da cruz.”
Um sinal dessa necessidade é o corajoso e estimulante artigo “Cruz”, de G. Mattai, no suplemento da IV edição do “Dizionario Enciclopedico di Teologia Morale”. Ele resume a atualidade da tese estaurológica em relação ao conceito de Deus e com relação à Cristologia, o mundo, a história, a Igreja e o ecumenismo. Ele então desenvolve a contribuição da sabedoria da cruz para a situação geral da moralidade cristã. “A cruz do ressuscitado (Cristo) é o ponto de verificação da autenticidade da ação cristã e todos os seus conteúdos são qualificados por ela… Para o cristão, como para todos os outros homens e mulheres, é um compromisso com a luta pela libertação; mas ele terá seu próprio estilo original, recusando ser totalmente identificado com as reivindicações e interesses da sociedade… A cruz, que julga todas as coisas, proíbe a absolutização do projeto de libertação. Tais projetos são historicamente marcados e, portanto, limitados. A ‘memória crucis’ faz mais do que fazer uma opção preferencial por todos os povos oprimidos, crucificados de várias maneiras pela alienação, tanto antiga quanto nova; ela os exorta a tomar distância dos governos dominantes e dos sistemas, nunca fazendo deles ídolos, mas juntando a luta pela libertação a um compromisso crítico. Ela os exorta a desmitologizar o poder nas formas mais radicais das revoluções históricas, que muitas vezes se transformam em uma simples mudança dos líderes sem uma verdadeira metanoia, ou, em linguagem popular, sem uma revolução cultural.”
A Cruz na Peregrinação Espiritual Hoje
Embora haja aplicações necessárias da sabedoria da cruz na vida pública, devemos transformar as pessoas em seus corações. Vale a pena notar o grande espaço que A. Maranaranche dedica à cruz em seu estudo “A Vida de Libertação… Orientações da Vida Espiritual”. A cruz entra quando temos que tomar decisões importantes. “Cada decisão espiritual é uma vigília da Paixão, ou seja, uma antecipação da morte, a coisa mais difícil possível para um homem; o sinal através do qual sua fé profunda é reconhecível, digna do Cristo a quem fizemos profissão de seguir.” A experiência de Jesus no cenáculo, quando ele deu significado e valor à sua morte, fazendo de seu destino um ato livre e transformando esse terrível fardo em uma mensagem de amor, se reproduz. A morte não é um evento fatal e meramente biológico, mas toda a vida humana vista no sinal da perda de si por amor, com o “quotidie morior” de Paulo. “Somente o místico consegue realizar plenamente o dever humano fundamental de trazer a morte para o centro da vida diária…” Portanto, temos que superar a ideia da cruz como um simples “teste” e ainda mais a da cruz como “desgraça”. A contemplação da paixão deve estar em uma chave trinitária: os próprios teólogos expressaram o paradoxal “A Paixão do Impassível” ao ensinar que a primeira cruz do Verbo é a Sua Encarnação. A “passagem” para o Pai então se torna a revelação (limitação e analogia) dessa descida íngreme. A cruz é obediência total ao Pai, autoabandono incondicional à humanidade, tortura terrível dos sentidos e do coração, mas também o ‘único caminho para a libertação’. “Vitorioso sobre os poderes das trevas, Aquele que morreu na cruz e foi colocado no sepulcro agora vive para sempre, Senhor absoluto de todo determinismo: mistério da liberdade de Cristo como de toda liberdade humana autêntica.”
Uma outra apresentação espiritual e sapiencial da cruz é a do Pe. R. Regamey, “A Cruz de Cristo e a Cruz do Cristão”. Ao homem que protesta diante do escândalo do sofrimento, é justo dizer que a cruz não exige explicação, mas a Presença de Deus. Portanto, o campo deve ser limpo das ideias negativas sobre a cruz, pois certamente “se a linguagem da cruz for dada sua pureza e plenitude, ela de alguma forma atingirá o ‘coração’ do homem moderno”. Após examinar cuidadosamente o que a cruz significa para o Homem Jesus, pode-se então passar para a decisão de “completar” o que falta à Paixão, abraçando a cruz positivamente dentro de um contexto eclesial.
O autor, ao concluir seu estudo, dá sugestões úteis e práticas para aplicar à vida sacramental dos fiéis.
Formas Práticas de Teologia Pastoral da Cruz
As limitações deste curso nos impedem de apresentar todas as possíveis aplicações pastorais da sabedoria da cruz. Vamos falar simplesmente de algumas posições que surgiram do Congresso Internacional sobre a Sabedoria da Cruz. D. Grasso ilustrou “A Abordagem à Cruz em um Mundo Secularizado”. O mundo tenta se livrar do sofrimento sem sucesso, criando novas formas, ou acabando em desespero, ou “sentindo que deveria haver uma resposta para o problema da maçã, mas sem saber se realmente há uma, ou se o seu pressentimento é apenas uma ‘projeção’ de uma necessidade que ele deve ter para viver”. Somente a cruz de Cristo pode oferecer uma resposta positiva. Sim, a vida vale a pena ser vivida, porque o mal tem um significado através do qual um plano é realizado – um plano que terá seu cumprimento. O contínuo fracasso do homem é apenas uma aparência; é o caminho para a vitória. O Filho de Deus nos assegura isso, tendo passado pelo fracasso mais completo e chegado à ressurreição. “Tende confiança”, Ele diz das alturas da cruz, “Eu venci o mundo”, ou seja, o mal.
G. Cardaropoli observa que a sabedoria da cruz desmistifica práticas sociais e eclesiais errôneas, e que a “teologia crucis” está apenas dando seus primeiros passos. “A Igreja é vitoriosa e se expande quando é perseguida. Seu avanço parece irreversível: as estruturas e culturas imperiais são superadas… Quando ela respeitou este critério, ‘ele salvou morrendo’, isto é, recebeu glória de sua morte, ela avança e se renova. Mas quando ela se desvia dessa metodologia, ela enfrenta impedimentos e complicações.” O desenvolvimento dessas posições implica uma mudança de uma abordagem pastoral de poder e defesa para um serviço pastoral. “A escolha da metodologia da cruz não é uma novidade. Ela é da essência do cristianismo; portanto, um aspecto de sua existência perene. Mas ela deve ser posta em prática. Isso supõe uma conversão efetiva de todos, desde o Pontífice Romano até os bispos, sacerdotes, religiosos e leigos de todo tipo. O renovo do mundo não pode avançar a menos que haja uma autossuperação da Igreja.”
O Cardeal Ugo Poletti é claramente um pastor “convertido”, tratando de “Cruz e exigências sociais de uma metrópole moderna”. O mistério da cruz não pode ser reduzido a uma dimensão limitada de devoção pessoal e privada. Ele é um fato essencialmente social, tanto mais atual e incisivo onde a realidade dos homens que sofrem está mais concentrada. Precisamente na metrópole, onde a injustiça e o sofrimento atingem limites extremos e dimensões aterradoras; em um sofrimento global e coletivo, novas condições de justiça e solidariedade podem ser geradas, desde que milhões de homens sejam retirados do anonimato, homens que sofrem sem esperança de escapar para uma vida diferente. Jesus Cristo na cruz não é anônimo; Ele é O HOMEM, Ele é todo homem. O Homem que luta e vence toda forma de violência e morte. Ele é o único garantidor de toda forma de justiça pessoal e social. Devemos dar o nome justo e cristão à cruz da paixão diária da humanidade, para capacitar os homens a assumir a capacidade de construir o que todos esperam… valores mais elevados.
Notas
Capítulo 1:
1) Mysterium Salutis, vol. 6, p. 327
2) Constitution on the Sacred liturgy, 6
3) Pastoral Constitution on the Church in the Modern World, 2
4) “Il mistero della Croce,” Brescia, 1978, p. 1b
5) “La fede, nella storia e nella societa”, Brescia 1978, pp. 99ff.
6) Dogmatic Constitution on Divine Revelation, 13
7) Ibid., 8
8) Mysterium Salutis, vol. 2, pp. 512-519
Capítulo 2:
1) Flick, op. cit., p. 23
2) Flick, op, cit., p. 23
3) Milano, Rusconi, 1973, p. 236
4) p. 68
5) p. 72
6) Karl Rahner, “Il mistico tau”, in “L’ecclesiologia dei Padri”. Roma, Ed. Paolini 1971, pp.
691-736
7) Karl Rahner, “Antenna crucis”, op. cit. pp. 437-466
8) H.U.V. Balthasar, “Croce e Filosofia” in “Mysteriun Salutis” vol. 6, pp. 210-219
9) “La Grecia e le intuizioni precristiane”, Milano, Rusconi, 1974 pp. 245; 264
10) H.U.V. Balthasar, op. cit., p. 218
11) Flick, op. cit., p. 85
12) I. Mancini, “Venerdi’ santo speculativo” in “La Sapienza della Croce Oggi”, Torino, 1976,
vol.3, p. 10
13) Ibid. p. 12
14) Ibid. p. 13
15) Ibid. p. 19
16) “Ateismo nel cristianesimo”, Milano, 1971, p. 171
17) Ibid. p. 210
18) Ibid. p. 214
19) J. Pohier, “Ricerche di teologia e psicoanalisi”, Assisi, 1973, pp. 116-118
Capítulo 3:
1) R. Bultmann, “Gesu”, Milano, Queriniana, 1972, p. 103
2) Ibid., p. 120
3) Ibid., p. 124
4) Ibid., p. 239
5) Divine Revelation, 19
6) Cfr. e.g., S. Loi, Problemi e orientamenti della cristologia, in the Italian bibliography from
recent years in “Rassegna di Teologia” 1973, pp. 337-350.
7) C. Porro, “Sviluppi recenti della teologia della croce”, in “La Scuola Cattolica”, 1977, p.
382ff.
8) “Gesu’ Liberatore”, Libr. Editr. Fiorent., 1978, p. 131ff.
9) “Il mistero della croce”, op. cit., p. 95
10) Ibid. p. 96
11) “Cristologia”, Proposta sistematica, p.m., Milano, p. 192
12) Ibid. P. 192
13) Ibid. p. 193
14) Ibid. p. 194
15) Ibid. p. 197
16) Ibid. pp. 198ff.
17) Ibid. p. 210
18) Ibid. p. 199
19) Ibid. pp. 192f.
20) A. Lapple, “Gesu’ di Nazareth”, Ed. Paoline, 1974, p. 95
21) Ibid. p. 96
22) Moioli, op. cit., p. 199
23) Orientamenti attuali circa la psicologia umana di Cristo, in “Teologia del Presente, 1972,
pp.240-252
24) “La psicologia di Cristo”, in “Teologia del Presente”, 1973, pp. 109-123
25) P. 383
26) C. Porro, “Sviluppi recenti della teologia della croce” op. cit. p. 383ff.
27) “Jesus devant sa mort dan L’evangile di Marc”, Paris, 1970, pp.106f.
28) “Comment Jesus a-t-il percu sa propre mort?” in Lumiere et Vie, 1971 n. 101, p. 50
29) “Jesus devant sa Passion”, Paris, 1976, pp. 170ff.
30) “Comment Jesus a-t-il vecu sa mort?”, Paris 1977, p. 16
31) Ibid. p. 19
32) Ibid. p. 76
33) “Gesu’ di fronte alla sua vita e alla sua morte”, Assisi, Cittadella, 1972 p. 222
34) Vol. 8, cc. 1065-1109
35) Ibid. c. 1077
36) Ibid. cc. 1086-91
37) O. c.p. 147
38) Ibid. p. 153
39) Ibid. p. 166f.
40) Porro, “Sviluppi recenti…’‘-op. cit. p. 407
41) Ibid. p. 390
42) Ibid, p. 391
43) Guillet, “Gesu’ di fronte”…p. 184
44) Ibid. p. 185
45) Ibid. p. 187
46) Ibid. p. 187
47) Ibid. pp. 187-191
48) Ibid. pp. 194-200
49) Chordat, op. cit. p. 84
50) Ibid. p. 85
51) Ibid. p. 102
Capítulo 4:
1) Flick, op. cit., p.103
2) Flick, op. cit. p. 104
3) Flick. op. cit., p. 110
4) O. Cullman, “Cristologia del N.T.”, Bologna, 1970, p. 157
5) Flick, op. cit., p. 143
6) Ibid.
7) Ibid.
8) Ibid. p. 146ff.
9) Ibid. p. 186
10) Ibid. p. 186ff.
Capítulo 5:
1) Brescia, Queriniana, 1972
2) “La salvezza oqgi”, Bologna, 1974, pp. 107f.
3) Ibid., p. 230
4) “Uomo”, pp. 39f.
5) Flick, op. cit., p. 197
6) Ibid, p. 232
7) Ibid. p. 207
8) “Corso fondamentale sulla fede”, ed. Paoline, 1977, p. 161
9) Ibid. p. 166
10) Ibid. p. 327
11) Ibid. p. 329
12) Ibid. p. 330
13) Ibid. p. 344
14) Ibid. p. 351
15) Ibid. p. 367
16) Ibid. p. 328
17) Ibid. p. 352
18) B. Mondin, “Le cristologie moderne”, ed. Paoline, 1976, p. 64
19) J. Galot, “Gesu’ Liberatore”, Firenze, 1978, p. 34
20) “Cristologia”, Brescia, 1972, pp. 512ff.
21) Ibid. pp. 515ff.
22) “Gesu’ il Cristo”, Brescia, 1975, p. 157
23) Ibid. pp. 157-62
24) “Un Dio di uomini”, Brescia, 1971, p. 161
25) “Introduzione al cristianesimo” Brescia, 1969, p. 160
26) Ibid. p. 175
27) Op. cit. p. 58
28) Cfr. Galot, op. cit., p. 58, note 15
29) “La fede, nella storia e nella societa”, Brescia, 1978, p. 107
30) Ibid. pp. 115f.
31) G. Mattai, Croce, in Dizion. Enciclop. di Teol. Morale, Supplemento alla IV idiz., Ed.
Paoline, 1976, p. 1294
32) L. Rossi, “Croce, lotta di classe, interclassismo”, in “Sapienza della Croce oggi”, 3rd. vol.,
pp. 283ff.
33) E. Balducci, “Teologia della croce e impegno politico”, in “Sapienza della Croce oggi”, 3rd.
vol. p. 296
34) Galot, op. cit., pp. 96ff.
35) “Gesu’ Cristo Liberatore”, Assisi, 1973, pp. 117ff.
36) “Gesu’, la storia di un vivente”, Brescia, 1976, p. 312
37) Ibid. p. 323
38) Ibid. pp. 654; 659; 664
Capítulo 6:
1) p. 306
2) Ibidem
3) p. 308
4) pp.309ff.
5) L, Mancini, nella prefazione a “Resistenza e Resa”, di Bonhoeffer, p. 23
6) Moioli, op. cit., p. 310
7) Ibid. p. 311
8) p. 312
9) p. 83
10) Gibellini, “La teologia di J. Moltmann”, Brescia 1975, p. 235
11) p. 232
12) p. 265f.
13) Gibellini, op. cit., p. 244f.
14) Ibid. p. 248
15) B. Mondin, “Le teologie del nostro tempo”, Roma 1975, p.1 164
16) AA. VV. “Sulla teologia della croce”, Brescia 1974, p. 167
17) Assisi, 1975, p. 196
18) p. 11
19) p. 19
20) p. 34
21) p. 41
22) p. 45
23) p. 46
24) p. 56f.
25) p. 83
26) p. 97
27) p. 108
28) p. 147
29) cfr. p. 156
30) p. 159
31) p. 169
32) p. 170
33) p. 184f.
34) p. 195
35) Brescia, 1972
36) C. Porro, “Sviluppi recenti della teologia della croce”, in La Scuola Cattolica, 1977, p. 403
37) Ibid. p. 406
38) Brescia, 1977, p. 494
39) p. 27
40) p. 42
41) Cfr. p. 57
42) Cfr. p. 71
43) Cfr. p. 76
44) p. 81
45) p. 83
46) p. 195
47) p. 196
48) p. 287
49) p. 344f.
50) p. 397f.
51) p. 481
52) p. 483
Capítulo 7:
1) Fasc. 2, pp. 135-141
2) Fasc. 2, pp. 126-141
3) Milano, 1972
4) p. 42
5) p. 48
6) p. 12
7) Ibid. p. 19
8) Ibid. pp. 58-66
9) Ed. Paoline, 1976, pp. 1290-1300
10) p. 1294
11) p. 1296
12) Torino, Gribaudi, 1972
13) p. 192
14) Cfr. p. 197
15) p. 199
16) p. 201
17) Cfr. p. 208
18) p. 222
19) p. 217
20) Fossano, “Esperienza”, 1972, pp. 134f.
21) Cfr. p. 29
22) p. 35
23) Atti, Volume 3, pp. 418-31; anche in opuscolo a parte, ed. Ares, 1980, pp. 80f.
24) p. 422
25) Cfr. Atti, Volume 3, pp. 432-48
26) p. 437
27) p. 448
28) Op. cit., pp. 407-417
29) Cfr. p. 410